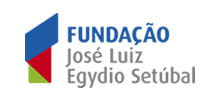Decolonizar a pesquisa sobre sociedade civil
Desigualdade de poder entre pesquisadores do Sul e do Norte Global prejudica o compartilhamento do conhecimento
Por Christopher L. Pallas, Anna Domaradzka, Cristina M. Balboa, Elizabeth Bloodgood, Dipendra KC, Emmanual Kumi e Patrícia Mendonça
Em meados de 2022, Christopher Pallas e Elizabeth Bloodgood apresentaram os resultados de Beyond the Boomerang (“Além do bumerangue”, sem tradução em português), editado por eles, numa conferência internacional. O livro aborda como a crescente ação de organizações da sociedade civil de países de média e baixa renda do Sul Global, associada a novas oportunidades de parceria e estímulo, estava subvertendo o advocacy tradicional.
A apresentação despertou grande interesse, mas também suscitou indagações. Um profissional da saúde da África Oriental perguntou por que os editores tinham analisado padrões no Sul Global praticamente sem participação de autores da região. A pergunta foi impactante.
Esse fato nos levou a nossa atual colaboração, uma equipe de acadêmicos do Brasil, Canadá, Gana, Nepal, Polônia e Estados Unidos, que se reuniu para analisar as origens das organizações da sociedade civil locais e refletir sobre questões de poder e participação. Partindo de nossas próprias experiências e do estado da arte da área, observamos que há uma tendência de que acadêmicos do Norte Global dominem o processo de pesquisa na área. Nossa pergunta foi: “O que esses acadêmicos perdem quando não conseguem atrair colegas do Sul como coprodutores da pesquisa em igualdade de condições?”.
Normas e estruturas de pesquisa do Norte podem fornecer resultados imprecisos e não confiáveis sobre a sociedade civil porque não aproveitam completamente o conhecimento desenvolvido localmente e de base empírica. Para resolver essa questão, estamos trabalhando em conjunto para reavaliar processos a fim de incluir vozes e perspectivas do Sul de forma igualitária.
Imprecisões estruturais
É comum que acadêmicos do Sul Global trabalhem em parceria com pesquisadores do Norte. No entanto, a maioria dessas relações são desiguais e hierárquicas. Normalmente, os acadêmicos do Norte apresentam as propostas de pesquisa e solicitam os financiamentos, enquanto os parceiros do Sul são os implementadores dos projetos, supervisionando a coleta de dados. Os acadêmicos do Norte lideram a análise dos dados e reivindicam a autoria dos artigos, que, normalmente, são publicados em periódicos aos quais às vezes muitas universidades do Sul não têm acesso.
Os acadêmicos e instituições do Norte também desempenham um papel relevante no estabelecimento e na aplicação das normas de pesquisa. Uma delas é que o autor principal e os créditos da autoria sejam atribuídos proporcionalmente às contribuições de cada um na equipe. À primeira vista, essa norma parece imparcial e meritocrática, mas sua aplicação está condicionada a hipóteses questionáveis.
Como decidir quais contribuições são mais valiosas? Os acadêmicos do Norte podem responder que o valor depende mais da obtenção de financiamento, do projeto de pesquisa e do acesso aos veículos de publicação mais prestigiados. Em geral, é dessa forma que eles contribuem para os projetos. A contribuição dos acadêmicos do Sul, que inclui conhecimento e idioma locais, acesso aos dados e a experiência com publicações locais ou regionais, é secundária. Se um grupo de pesquisadores do Sul não estiver disposto a fornecer os dados, outro pode substituí-lo.
Essa avaliação reflete uma dinâmica colonialista. No mundo da pesquisa, os dados são a matéria-prima mais importante. Os pesquisadores do Norte geralmente obtêm os dados dos do Sul em troca de salários, em vez de crédito. No Norte, esses dados originam produtos em publicações e relatórios sobre políticas, impelindo as carreiras de seus autores.
Esse sistema não só é injusto e ilegítimo; ele também gera produtos de má qualidade. Embora toda pesquisa deva ser objetiva, ela sempre é moldada pelo conhecimento, ideias e vieses dos autores. Essa subjetividade começa com as perguntas que os pesquisadores fazem e continua com as decisões sobre os dados a coletar. Fazer perguntas erradas e não interpretar os dados corretamente resulta em pesquisas, na melhor das hipóteses, duvidosas e, na pior, prejudiciais à ciência e à sociedade.
Até os acadêmicos mais conscientes são suscetíveis ao viés de confirmação. As pesquisas projetadas no Norte geralmente refletem um conjunto de suposições locais sobre o contexto, relacionamentos e normas que chegam a excluir as perspectivas dos pesquisadores do Sul. Como a maioria dos fenômenos tem múltiplas causas e explicações, os acadêmicos do Norte geralmente acreditam que suas hipóteses são bem embasadas e consolidam essas “descobertas” por meio da publicação – embora continuem ignorando completamente explicações alternativas, possivelmente melhores. Essas pesquisas também acabam sofrendo limitações estruturais na etapa de revisão por pares. Os pesquisadores do Sul Global compõem uma comunidade forte e sólida que compartilha ideias em suas próprias redes de conhecimento e em periódicos acadêmicos publicados e lidos no Sul Global, a maioria de livre acesso. Quando o resultado das colaborações Norte-Sul é publicado em periódicos do Norte com acesso pago, a boa pesquisa não consegue beneficiar o Sul Global. A pesquisa de má qualidade fica fora do alcance das críticas dos acadêmicos do Sul porque estes, os mais aptos a criticá-la, não conseguem acessá-la.
A situação piora com as barreiras linguísticas. Não só porque a maioria das publicações é em inglês, mas, de um modo geral, o estilo do inglês falado e escrito em muitos países do Sul não agrada aos editores e revisores do Norte. O rápido desenvolvimento da IA generativa pode ajudar a reduzir essas últimas barreiras, mas somente se os editores concordarem em permitir seu uso para revisão – o que a maioria dos editores não faz ainda. Os periódicos também podem fornecer aos autores do Sul os recursos necessários para que seus trabalhos sejam traduzidos profissionalmente para o inglês, como fez recentemente a Voluntas em uma edição especial sobre a América Latina.
Recuar para avançar
Para melhorar a qualidade da pesquisa e promover uma colaboração mais justa é preciso eliminar as desigualdades estruturais entre pesquisadores do Norte e do Sul. Nossa equipe, que já aprendeu com décadas de críticas e pedidos para decolonizar a pesquisa, procura melhorar essa disparidade por meio de reflexividade crítica, igualdade radical e feedback recíproco.
Na reflexividade crítica é preciso considerar o contexto no qual a pesquisa e os pesquisadores se situam em relação ao projeto e aos participantes, assim como qualquer hierarquia de poder que possa existir. Nós levamos em conta os possíveis vieses que possam ter sido introduzidos em etapas anteriores da formação acadêmica, tratamos o assunto com cautela e reconhecemos nosso próprio potencial de viés e erro.
Para melhorar a qualidade da pesquisa, nossa equipe cria estruturas de igualdade radical e feedback recíproco. Começamos com a hipótese de que a perspectiva de cada membro é igualmente valiosa para o projeto como um todo. As decisões sobre cada etapa – projeto de pesquisa, solicitação de financiamento, coleta de dados e opções para a publicação – são discutidas e submetidas ao feedback de todo o grupo. Essa norma garante que o projeto represente a visão de todos e não seja definido, por exemplo, por parâmetros incluídos em uma solicitação de financiamento ou compromisso de publicação assumido por um único membro.
Nós ampliamos o feedback recíproco para criar um relacionamento generativo além do nosso grupo editorial e incluir quaisquer pesquisadores que possam fornecer dados. Em vez de solicitar que forneçam só dados relacionados ao tema da pesquisa, como ocorre com a pesquisa extrativa, solicitamos que também façam comentários sobre a validade desses temas no contexto local e sugiram questões adicionais que talvez tenhamos ignorado para garantir que o projeto todo seja relevante para eles.
Apresentações, publicações e outros outputs são tratados da mesma forma igualitária. Por padrão, os créditos de autoria seguem a ordem alfabética, a menos que alguma mudança seja autorizada por toda a equipe. Os meios de publicação e apresentação dos resultados são selecionados não apenas de acordo com o prestígio, mas também pela facilidade de acesso. Costumamos apresentar nossos trabalhos em conferências locais e regionais no Sul Global e em conferências internacionais realizadas com mais frequência na Europa e América do Norte e procuramos tornar nossas publicações acessíveis em repositórios institucionais de livre acesso.
A igualdade exige um esforço contínuo, e os processos que a garantem podem ser lentos ou difíceis. Quanto à logística, por exemplo, é preciso que alguém lidere as reuniões e atualize os cronogramas. Em um projeto tradicional, essa função seria ocupada por uma autoridade superior ou autor sênior. Em um projeto perfeitamente igualitário, essas funções são exercidas como serviço voluntário, sem critérios de hierarquia ou influência.
A valorização de outras formas de produção de conhecimento pode tornar a publicação mais lenta que na pesquisa convencional. Editores acostumados a decisões rápidas podem, de início, não entender por que, a bem da transparência, toda a equipe é copiada em mensagens ou por que as tomadas de decisão (por consenso em cinco fusos horários diferentes e sete agendas lotadas) são tão demoradas.
Mas os pontos positivos compensam o esforço. Parcerias decolonizadas não só são mais democráticas e inclusivas, mas também melhoram a confiabilidade dos dados e a precisão e credibilidade dos resultados. Os ciclos de feedback reduzem nossa tendência a ignorar um ponto de vista, uma fonte, ou um dado local importante. Além disso, quando nos envolvemos com os colaboradores e os colegas de equipe de uma forma mais equitativa, criamos espaços para aprendizagem mútua, construímos laços de amizade e aprimoramos o treinamento dos alunos, formando a base para o engajamento futuro e mudanças contínuas na cultura da pesquisa.