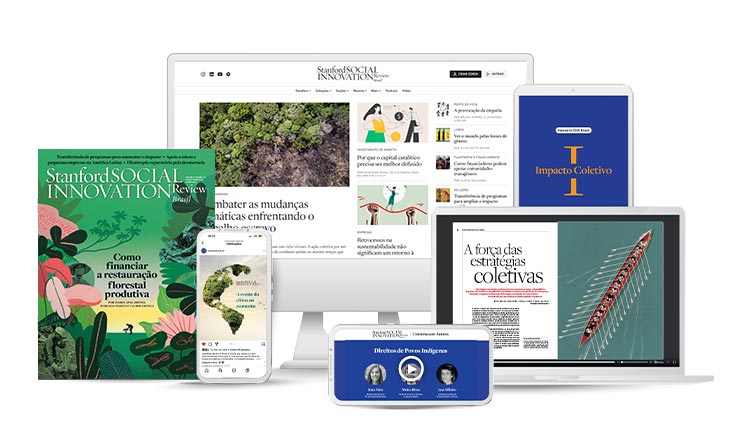Desde crianças somos levados a crer que o Brasil seria uma democracia racial. Dessa forma o país com a maior população negra fora do continente africano e com uma das maiores populações de descendentes de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, libaneses, entre outros, teria algo de único e original a exportar para o mundo: uma sociedade sem racismo.
Ainda que na década de 1950, intelectuais brasileiros tenham se juntado ao coro do movimento negro, denunciando a democracia racial no Brasil como mito, esta ideia permaneceu viva por gerações, buscando apagar a história de resistência negra ao escravismo e contribuindo para o silenciamento sobre o racismo na sociedade.
Leia também:
Como Alcançar uma Democracia Multirracial?
Mobilização Cívica em Tempos de Ameaças Existenciais
Como filho de ativistas do movimento negro, nascido nos anos 1980, fiz parte da minoria das crianças negras que conheceram a história de seus antepassados e que conversaram sobre racismo com familiares e amigos cotidianamente, até mesmo como forma de sobrevivência a seus efeitos. Por isso, entendo bem a importância de retirar esta temática do tabu, o que vem ocorrendo com um debate a cada dia mais franco e significativo, sobretudo nas últimas duas décadas.
Além da minha formação política no movimento negro, começando pela minha própria família, tive contato com movimentos de juventude negra que pautavam essa temática de forma ampla, enriquecendo meu repertório para tentar compreender um país tão desigual e contraditório, considerando a narrativa oficial de democracia racial por diversas instituições públicas.
Uma das minhas epifanias nesse percurso para melhor compreender o país é referente ao fato de que brasileiro é nome de profissão. Afinal é esse o papel, em geral, do sufixo “eiro” na língua portuguesa: carpinteiro, marceneiro, pedreiro. Em breve pesquisa, cheguei a uma explicação de que “brasileiro” foi termo pejorativo por muitos anos, já que remete à ocupação de quem extraía a árvore do pau-brasil, desempenhada por criminosos, mandados ao Brasil pela Coroa Portuguesa, durante nosso período colonial.
O racismo como lente que impossibilita que um ser humano veja o outro como igual é o empecilho mais relevante para a construção de uma democracia a partir do valor da equidade.
Nesse sentido, o vocábulo simboliza um projeto de exploração, e não de construção de uma sociedade, um país, interagindo com quem já se encontrava em solo sul-americano. Feita a digressão, não surpreende, portanto, que as marcas deste modelo de desenvolvimento, alicerçado no colonialismo e no escravismo, ainda estejam tão presentes nas mentes e corações de muitos, como os que se opõem a ações afirmativas visando à equidade racial, como programas de trainee de empresas focados em jovens negros, a exemplo do que foi lançado pelo Magazine Luiza, em 2020. Esta visão nos impede de construir um projeto de sociedade efetivamente coesa, fundamentada em sua diversidade humana, riqueza que deveria ser valorizada, já que é rara no mundo.
Em um país cuja matriz de desigualdades se inicia pelo racismo que a um só tempo expropria o trabalho e causa genocídios de pessoas negras e indígenas, naturaliza-se paisagem social em que estes grupos sejam vistos como destinados à exclusão, o que impacta principalmente sua juventude que experimenta taxas extremamente altas de morte violenta.
A título de comparação, vale lembrar que enquanto os Estados Unidos promoviam, ainda que temporariamente, direitos civis para a população negra, bem como medidas de indenização e integração, durante o período conhecido como Reconstruction, após finalizada a Guerra da Secessão (1865), no Brasil editava-se a Lei do Ventre Livre (1871).
Seu artigo 1º libertava os filhos das mulheres escravizadas, mas os colocava sob custódia do senhor de escravos, o qual deveria receber uma indenização do estado, quando a criança completasse 8 anos, ou poderia exigir compensação da própria criança, com seu trabalho forçado até os 21 anos, em clara medida de institucionalização do trabalho infantil, não por acaso ainda hoje muito maior entre crianças negras.
Nesse mesmo período, intensificava-se no Brasil o imigrantismo europeu como alternativa para ocupação dos crescentes postos de trabalho assalariado. A população negra, cujo trabalho foi considerado qualificado por séculos para atividades variadas e complexas durante o escravismo, ironicamente passa a ser considerada mão de obra não qualificada para a nova era, a partir da abolição formal da escravatura, o que a relegou ao desemprego em massa e, consequentemente, ao trabalho informal de forma sistêmica no país, sem qualquer proteção social.
No entanto, mesmo com a eloquência dos números de relatórios atuais sobre desigualdades raciais no trabalho, há quem insista em tentar contradizer os efeitos do racismo. Nada surpreendente em um momento histórico em que narrativas podem valer mais do que fatos, cujo sintoma mais conhecido é a pandemia de fake news que vivenciamos.
Assim, infelizmente, é com estarrecedora normalidade (este é o velho normal no Brasil) que encaro os levantes reacionários da branquitude contra políticas de equidade racial e programas de ações afirmativas em instituições, a exemplo de universidades e empresas, dando cumprimento a disposições do Estatuto da Igualdade Racial e de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Convenção 111 da OIT e, principalmente, nossa Constituição Federal, cujo artigo 170, inciso VII, prevê, entre outros princípios que devem reger a ordem econômica, a redução das desigualdades sociais, que, no caso brasileiro, não pode ser concebida sem programas que combatam o racismo, de forma sistêmica, e promovam a equidade.
Nos anos 2000, tive o privilégio de estabelecer trocas de saberes e perspectivas com ativistas e intelectuais dos Estados Unidos, como a professora Kimberlé Crenshaw, que esteve no Brasil em 2007 apontando para a existência de uma encruzilhada entre as histórias de relações raciais dos dois países: os Estados Unidos dos anos 2000, com a ascensão da noção de colorblindness e do mito de pós-racialidade, se pareciam muito com o Brasil da década de 1960, que tinha no mito da democracia racial um forte obstáculo para o enfrentamento do racismo. Já o Brasil dos anos 2000 se parecia muito com os Estados Unidos dos anos 1960, com o crescente número de programas de ações afirmativas nas universidades e em outras esferas.
Dessa forma era necessário que os movimentos antirracistas de cada país aprendessem uns com os outros. Até porque os movimentos racistas e supremacistas brancos de ambos os países sempre fizeram seu próprio intercâmbio de informações buscando o aperfeiçoamento de mecanismos de manutenção de privilégios.
É nesse mesmo período que o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), organização da qual sou hoje um dos diretores, passou a realizar as primeiras experiências de auditoria racial no Brasil (e provavelmente no mundo) em empresas privadas, a partir do aprimoramento de metodologia própria de censo em instituições, com vistas à elaboração de diagnósticos para a promoção de equidade racial. A tecnologia social foi desenvolvida ainda na segunda metade da década de 1990, com base nos estudos de Cida Bento sobre branquitude e racismo institucional.
Atualmente, realizamos auditorias raciais e censos em diversas empresas e outras instituições com o objetivo de produzir diagnósticos e engendrar políticas e práticas para torná-las mais equânimes, a partir da promoção do antirracismo na cultura organizacional, considerando a dinâmica entre diferentes sistemas de opressão: o racismo, sexismo, LGBTQIAP+fobia, capacitismo, etarismo, entre outros, como preconizam estudos de intelectuais negras e negros brasileiros e da Teoria Racial Crítica nos Estados Unidos, sobretudo Kimberlé Crenshaw, com o conceito de interseccionalidade.
A Construção de uma Sociedade para Todos
A relevância do trabalho e da justiça econômica envolvendo instituições públicas e privadas para a construção de uma sociedade mais equânime remete à educação como caminho para o aprendizado das instituições sobre democracia, sobre equidade como pilar fundamental para pensarmos bens materiais e imateriais de uma sociedade com bens públicos e comuns que não podem ser apropriados por determinados grupos. Portanto, pensar uma educação antirracista é parte inexorável do processo de construção de uma sociedade para todas as pessoas, verdadeiramente democrática.
Mas o que seria educação antirracista? Quais seus fundamentos, seus principais aspectos? As respostas a estas perguntas podem variar segundo diferentes perspectivas, dando mais ou menos peso a cada elemento que constitui uma noção de educação centrada no antirracismo.
O pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho foram estabelecidos pela Constituição Federal como finalidades da educação, reproduzidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A sequência destas finalidades revela primazia ao pleno desenvolvimento da pessoa porque, antes de exercitarmos os direitos à cidadania e ao trabalho, temos nosso pleno desenvolvimento assegurado pelo princípio da dignidade humana, fundamento de todo o ordenamento jurídico. O racismo está no lado oposto do que se considera “pessoa”, e dignidade humana remete à desumanização.
Dessa forma, a busca pela equidade racial pode começar na educação básica, traduzindo-se na concepção de que todas as pessoas são iguais em dignidade, mas vai atravessar todas as formas de socialização e relacionamento entre coletivos e instituições e tem valor estruturante para a sociedade.
Há muito ouvimos de especialistas e pessoas à frente da gestão pública algo que de tão batido se tornou quase mantra: a saída é pela educação. Se pensarmos em educação de forma ampliada, em que a sociedade tem que ser educada para funcionar para todos, sim o caminho é pela educação. E não podemos simplificar ou reduzir os desafios de uma educação democrática à universalização da educação básica.
Embora as vivências na escola sejam fundamentais para o pleno desenvolvimento da pessoa, é preciso nos perguntarmos em que sociedade está inserida a escola de que estamos falando. Em outras palavras, não é qualquer concepção de educação que pode contribuir para equacionar os desafios sociais que enfrentamos. Uma educação que reproduz o racismo não só deseduca, como também busca desumanizar mais da metade da população brasileira. Além disso, dá à outra parte da população a falsa noção de que seria superior em função da branquitude.
Portanto, a construção de uma educação antirracista é necessária, urgente e estratégica para uma sociedade mais igualitária, na qual todas as pessoas possam se ver e se sentir parte de um sistema de educação que considere as contribuições civilizatórias de cada grupo que compõe a sua história.
Somente assim poderíamos dar passos mais concretos no sentido da construção de uma democracia multirracial no Brasil, algo ainda muito distante da realidade de um país marcado pelo escravismo, autoritarismo e pelo racismo como sistema de opressão que hierarquiza pessoas de acordo com seu pertencimento étnico-racial.
Nesse sentido, o racismo como lente que impossibilita que um ser humano veja o outro como igual é o empecilho mais relevante para a construção de uma democracia a partir do valor da equidade, luta esta que não deve ser só de pessoas negras, mas igualmente das pessoas brancas antirracistas que pretendem nela viver.
É possível concluir que nossa chance de construção de uma verdadeira democracia com base na equidade é diretamente proporcional à nossa capacidade de eliminar o racismo sistêmico da sociedade brasileira. Trata-se de objetivo com contornos utópicos e talvez aí resida sua importância: nos manter caminhando de forma consistente, pois se é imenso o desafio, ele não é maior que a recompensa à frente.
O AUTOR
Daniel Bento Teixeira é diretor-executivo do CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Advogado especializado em direitos difusos e coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi pesquisador-visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, em Nova York, e fellow do Public Interest Low Institute, em Budapeste. É conferencista no Brasil e internacionalmente e coautor dos livros Ações Afirmativas: a questão das cotas; Discriminação racial é sinônimo de maus tratos: a importância do ECA para a proteção de crianças negras e Diversidade nas empresas e a equidade racial.