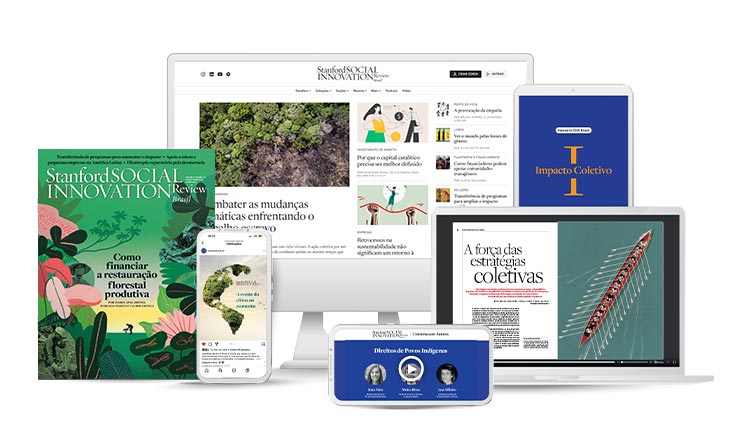No início dos anos 1990, eu trabalhava com sustentabilidade corporativa com um grupo de colegas jovens, inteligentes e otimistas, e não recebíamos praticamente nada por isso. Ocupávamos um canto ao lado do banheiro no Instituto Rocky Mountain, think thank voltado para a sustentabilidade. Em meio a enormes pilhas de relatórios sobre energia e exemplares do The New York Times, ainda a serem lidos, redigíamos brochuras e artigos de consultoria defendendo as corporações como as únicas entidades suficientemente grandes, ágeis e motivadas (pelo lucro) para resolver a questão do clima. Estávamos cercados, física e intelectualmente, pelos criadores do movimento: o guru da eficiência energética Amory Lovins, o autor Paul Hawken, de Ecology of Commerce, Ray Anderson — cuja epifania ambiental transformou a Interface, Inc — e engenheiros visionários como Eng Lock Lee, que tratava o design de sistemas como culinária chinesa, em que tudo pode ser usado, até os pés do frango.
Acreditávamos que a salvação do mundo, a solução do problema climático e o fim da poluição e do lixo seriam impulsionados por lucros corporativos e motivação estratégica. Fazer o bem para o meio-ambiente — reduzir o consumo de energia com lâmpadas econômicas e boilers melhores, diminuir a ineficiência graças ao design e à engenharia, e aumentar a oferta de energia renovável — era não apenas algo responsável do ponto de vista ambiental, como também positivo para o resultado final. Uma equação em que todos ganham.
Essa visão levou pessoas como eu para o setor, rendeu ótimas palestras no TED e inspirou clientes, empregados e investidores. E a sustentabilidade corporativa tem valor: bons designs podem, sem nenhum custo, alcançar grandes coisas. Veja a sua caneca de café da Starbucks: se você colocar o creme depois, precisará de um pauzinho para mexer o café — um pedaço de madeira colhido das florestas, manufaturado e transportado, embalado e distribuído. Porém, se fizer isso antes do café (uma solução dada pelo design), não precisa mais de um pauzinho para mexer. Você substituiu algo material pela inteligência; trocou a produção de lixo por uma ideia. Que maneira inacreditável e convincente de olhar para nossos problemas! Imagine a alegria ao modernizar as lâmpadas da garagem — como fiz no começo da minha carreira — para que a potência total caísse de 400 para 30 watts, obtendo uma iluminação melhor com lâmpadas mais duradouras. Não é preciso ser analista quantitativo para achar algo assim inspirador. Imagine instalar banheiros secos e que não têm cheiro em construções onde o bombeamento da água representa 8% do total da energia usada no edifício, economizando água e energia.
Essas coisas — que chamamos de benefício em cascata — realmente aconteceram. Todavia, 25 anos depois, mesmo com o crescimento do movimento corporativo em prol da sustentabilidade, a mudança climática, principal indicador da possibilidade de um futuro sustentável, segue seu curso. E um planeta pegando fogo, inundado em enchentes e tomado por seca, fome, conflitos e ondas de calor — com governos e cidadãos preocupados com a reação a esses desastres e não com estabilidade e prosperidade — está longe de ser a imagem de sustentabilidade de qualquer pessoa. Ainda assim, ao longo da revolução corporativa da sustentabilidade, a mudança climática deixou de ser uma preocupação para ser uma certeza, com a confirmação de um aquecimento catastrófico de pelo menos dois graus Celsius. O período mais quente já registrado na história foram os últimos sete anos.
Diante de tal realidade, mesmo uma conquista como uma grande corporação reduzindo em 30% sua pegada de carbono — um feito de super-herói e extremamente difícil de se conseguir — não faz sequer cosquinha no problema climático. Há pessoas demais, governos demais, e muitas outras empresas que simplesmente não estão nem aí. Mesmo reduções radicais de emissões de gases de efeito estufa, ao menos nos Estados Unidos, não são suficientes: nossa sociedade está tão tomada de carbono que até os sem-teto causam impacto.
Cheguei à conclusão de que o business case da ação ambiental, que segue sendo uma estratégia corporativa climática fundamental, tem pouco a ver com sustentabilidade, por mais admiráveis que sejam a intenção e a visão de seus articuladores. Pior ainda: o foco em práticas sustentáveis em vez de deslocar o poder, inadvertidamente fortaleceu o setor de combustível fóssil junto às políticas e práticas estatais, permitindo que a ExxonMobil e outras empresas maximizassem seus lucros e suas emissões de gases de efeito estufa sem serem incomodadas.
A mudança sistêmica é o único caminho para a estabilidade climática. No entanto, o que o movimento de sustentabilidade corporativa conseguiu foi garantir que todos trabalhassem dentro de condições de igualdade estritamente definidas, deixando a única coisa que precisamos combater — a economia baseada em combustível fóssil — intacta e livre de ameaças.
Uma distração bem-intencionada
O problema não está no fato de práticas corporativas sustentáveis não ganharem escalabilidade, embora isso seja verdadeiro e pertinente. A questão é que elas atrapalham ações significativas.
Uma empresa que busque “sustentabilidade”, como o termo é tradicionalmente compreendido (toda aquela coisa de contabilidade, relatórios e reuniões, auditorias ISO 140001, registro no Global Reporting Initiative, certificações e orientações em Liderança em Energia e Design Ambiental (Leed, na sigla em inglês), certificações terceirizadas, petições, tudo isso demonstra comprometimento, mas não reduz as emissões), torna-se, aos olhos da imprensa e segundo a percepção do cliente, “verde”. O que equivale a uma absolvição de qualquer outra coisa. Tais empresas não têm de se submeter ao trabalho árduo do ativismo político que pode de fato diminuir emissões internacionalmente como fazer ações de advocacy, manifestações públicas, testemunhos em Washington, barulho, articular coalizões incômodas e pressão em colegas, além de desinvestimentos ou exposição pública de seus comportamentos nefastos. Não precisam nem reduzir suas emissões para serem vistas como líderes nesta causa. Precisam apenas aspirar a isso.
Mas essa abordagem pode ser ainda mais danosa do que uma distração. Na prática, essas ações parecem expressamente elaboradas para obter a chancela de ecológica sem que isso exija a realização do difícil trabalho que é exercer poder e ser ativista político (atitudes que podem irritar acionistas, ser incômodas e, possivelmente, desencadear regulações e ira de parlamentares, pessoas de quem os gerentes desejam outros favores). Na verdade, no início da luta climática, empresas evitavam até reconhecer a ciência do clima, porque assim poderiam evitar maiores aborrecimentos por meio de um refrão que se tornou (e permanece) comum: “Isto é tão rentável que devemos fazer independentemente do que afirma a ciência!”. Pode-se ver nessa ideia o início da degradação moral. Imagine: “Racismo à parte, deveríamos tratar as pessoas de maneira equânime porque é bom para o balanço final!”.
Contudo, era extremamente importante que as empresas reconhecessem a ciência, uma vez que as políticas, àquela altura e também hoje, eram feitas com base na negação científica. Muitas atitudes complicadas são complicadas porque também são atitudes morais. Como me explicou um teólogo: “Jesus não foi assassinado porque pregava bondade. Ele foi crucificado porque pregava justiça”. De certo modo, trocar lâmpadas e reduzir a pegada de carbono são bondades — não há nada que as desabone. Enfrentar o problema climático sistêmico de peito aberto, no fim das contas, tem a ver com justiça. E isso lhe trará problemas.
Duplicidade
Em muitos casos, a evasiva se torna duplicidade pura. Como Penélope, as empresas aprenderam a tecer a mortalha fúnebre de seus créditos de carbono e redução de lixo durante o dia e desmanchá-la, com ajuda corporativa e de lobistas, de noite. Os “líderes” do movimento de sustentabilidade corporativa são mais ou menos silenciosos quanto à política. No entanto, com a maior parte de suas ações e mensagens voltadas para o modo como estão deixando suas operações mais ecológicas, também distribuem dinheiro para políticos como Mitch McConnel ou outros que negam os problemas climáticos, como o ex-senador republicano David Perdue (como fizeram Microsoft, Bank of America e a líder do segmento de carros elétricos GM, entre outras). Se Purdue tivesse sido reeleito, a ação climática no Senado teria sido impossível, desfazendo todas as demais aspirações climáticas que aquelas empresas pudessem ter tido. Empresas que se dizem ecológicas, descobrimos, também podem criar e vender serviços de armazenamentos nas nuvens, softwares de inteligência artificial e ferramentas de machine learning usadas para aprimorar a busca e a distribuição de combustíveis fósseis, enquanto alegam se preocupar com a mudança climática (não quero dar nomes, mas, bem, Microsoft, Amazon e, até bem pouco tempo, Google). Em alguns casos, fazem lobbies contra os objetivos ambientais que professam, como fez a GM acerca dos padrões automotivos na gestão Trump, apesar de sua afiliação ao CERES, grupo de sustentabilidade corporativa. Como observou o senador Sheldon Whitehouse, existem empresas tomando grandes atitudes internamente — e compartilhando tais narrativas — enquanto liberam seus lobistas para fazer o oposto.
Muitas vezes a duplicidade vai além de questões relacionadas ao clima, adentrando áreas como responsabilidade e justiça social, causas que são essenciais para o movimento climático. Como observou Osita Nwanavue, muitas empresas que se autodeclaram responsáveis também financiam práticas antidemocráticas ao apoiar grupos como o Redistricting Majority Project, da liderança do Comitê do Estado Republicano (Republican State Leadership Committee): “A Coca-Cola, por exemplo, cujo CEO declarou, em junho de 2021, que empregaria “seus recursos e sua energia para ajudar a acabar com o ciclo de racismo sistêmico”, provavelmente deveria deixar de alocar recursos para a reeleição de parlamentares republicanos — inclusive em estados como Georgia, onde está sua sede e onde o Partido Republicano tem se mostrado bastante pertinaz em seus esforços para privar os afro-americanos de seus direitos.”
Outro problema que envolveu a Coca-Cola foi o fato de a empresa ter permitido que uma lei claramente favorável à repressão eleitoral fosse aprovada na Geórgia, criticando-a somente após sua promulgação. A empresa pegou o pedaço do bolo da lei que desejava para proteger o status quo e o aceitou trajando o manto da indignação, mas somente depois que a lei já havia entrado em vigor.
Outro exemplo é a Proctor & Gamble(P&G), que produz relatórios de sustentabilidade desde 1999 e que lançou, em 2020, um anúncio em prol da justiça racial. Contudo, durante o ciclo eleitoral de 2016, a P&G fez doações quase duas vezes maiores para os deputados e senadores republicanos do que para os democratas. Sabendo como o Partido Republicano age em relação a questões climáticas e raciais, como isso pode fazer sentido?
Nas mãos da indústria de combustíveis fósseis
Ao longo dos anos, essas descobertas terríveis me conduziram a um lugar ainda menos agradável: as atitudes tomadas por empresas sob a bandeira da sustentabilidade corporativa em que “ganham todos”, em que há lucro e tudo é bom para o planeta, eram exatamente o que o setor de combustível fóssil queria que fosse feito. Essas atitudes garantem que as empresas assumam a responsabilidade pelo problema do clima apenas no tocante aos desafios que enfrentam em relação às suas emissões, sem olhar para isso como um problema sistêmico. Isso faz com que se concentrem em ações de sustentabilidade tão toscas e insignificantes que jamais atrapalhariam a força administrativa do setor de combustível fóssil. Essa abordagem é, em parte, o que o cientista climático Michael Mann chama de “a nova guerra do clima”.
Pensemos sobre isso. Empresas de combustível fóssil gostam de escritórios e residências que zeram as emissões líquidas de carbono; de empresas com neutralidade de carbono; de ações de compensação de carbono; de falar de “economia circular”, em que as coisas são reutilizadas e recicladas; da ideia de “metas orientadas pela ciência” em que empresas determinam sua “cota-parte” do fardo da redução de carbono no mundo (como se isso fizesse algum sentido — qual sua cota-parte na hora de apagar o incêndio florestal que está ameaçando sua região?); gostam de cidadãos e empresas que “fazem sua parte” e de falar que “cada pequena atitude ajuda”; e, principalmente, gostam de se concentrar em si mesmas, não no sistema.
Essas empresas gostam dessas coisas porque, assim, desviam a atenção das organizações e dos cidadãos quanto às ações que as instituições poderiam tomar e que realmente poderiam machucar, atitudes temidas pelo setor de combustível fóssil. Coisas como parar de financiar políticos, ou investir contra suas licenças; reduzir ou eliminar investimentos; estimular políticas públicas que acabem com seus subsídios e incentivem energias renováveis e eletrificação; boicotes e protestos contra processos e operações corporativas; ativistas ocupando seus principais prédios; regulamentações da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês); impostos justos sobre emissão de carbono; uma imprensa que realmente investigue o que “verde” significa (veja: os principais bancos americanos alegam aos quatro ventos que proibiram o financiamento de perfurações no Ártico, algo que, na verdade, sequer está ocorrendo e que tampouco é arriscado ou dispendioso); e CEOs poderosos que declarem para os principais meios de comunicação a necessidade de adoção de políticas climáticas agressivas; odeiam eleições livres e justas que dão poder à grande maioria dos americanos que se preocupa com as ações climáticas nocivas.
Como chegamos até aqui?
Quando um braço do negócio do setor de combustível fóssil — a indústria do plástico — percebeu, no fim dos anos 1960, que garrafas de refrigerante e potes de iogurte estavam entupindo estradas e rios, sabia que precisava se eximir da culpa e colocá-la nos cidadãos. E o fez de maneira primorosa com o famoso comercial “Índio chorando”, no qual um ator (de origem siciliana) faz o papel de um nativo que derrama uma lágrima diante da quantidade de lixo espalhada por americanos egoístas. Deu certo. Em vez de perseguir as indústrias de plástico com forcados, os americanos assumiram a culpa do problema, embora nunca tivessem exigido garrafas plásticas nem insistido em ter mobilidade ou em poder contar com a entrega de cerveja gelada como forma capaz de destruir a civilização.
Mais tarde, o setor de combustível fóssil adotou a mesma estratégia, assim como havia abraçado a negação climática feita pelas grandes empresas de cigarro. Como afirma Mark Kaufman: “A BP [British Petroleum] contratou profissionais de relações públicas da Ogilvy & Mather para promover a ideia de que a mudança climática não é culpa de uma gigante petrolífera, mas das pessoas”. O resultado foi a engenhosa calculadora de pegada de carbono: ferramenta para determinar até que ponto somos culpados, tirando, convenientemente, a responsabilidade dos arquitetos do problema e a colocando sobre os peões do sistema. Lembre-se: cidadãos americanos não criaram as leis nem as infraestruturas favoráveis à emissão do carbono que regulam nosso mundo. O poder da indústria sim.
Cumplicidade
Como se vê, a grande ideia de que as empresas podem, por meio de suas próprias atividades, fomentar as soluções para os problemas da mudança climática fez com que as coisas ficassem nas mãos dos fornecedores, e isso em um mundo que sofre devido aos efeitos do aquecimento global. Eu iria além: práticas corporativas sustentáveis não foram apenas uma distração (ruim), tampouco a esquiva de um trabalho complicado e controverso (sinistro), ou intencionalmente enganoso (corrupto). A abordagem foi maligna porque reflete cumplicidade. Cumplicidade com o setor de combustível fóssil e a estrutura por ele criada — sua tomada do poder; seu domínio econômico; seus subsídios escusos, porém duradouros; seu apoio, graças aos representantes políticos, a práticas antidemocráticas que restringiriam as regulações; seu desenvolvimento em um mundo em que cidadãos vivem em uma economia fóssil, não em virtude de suas atitudes, mas que, ainda assim, se sentem responsáveis por isso.
A sustentabilidade corporativa como é praticada, pesquisada, ensinada e relatada atualmente segue sendo a melhor maneira de promover o sucesso do setor de combustível fóssil rumo a uma catástrofe climática cada vez mais iminente. Cinquenta anos depois do comercial com o índio americano que chora, ainda estamos perdendo tempo na tentativa de descobrir como nossas empresas podem passar a ser neutras em carbono, como podemos agir “dentro do sistema” e junto às “forças do mercado” para resolver o problema do clima. Quando algumas empresas conseguem obter o mais remoto dos progressos além do mundo das legislações, professores universitários, o público em geral e a imprensa as elogiam efusivamente. Enquanto isso, as pessoas que as criticam são tachadas de fanáticas, radicais e socialistas, que “simplesmente não conseguem entender” o capitalismo. George Monbiot. Amy Westervelt. Sheldon Whitehouse. Bill Moyers. Bernie Sanders. Naomi Klein. Bill McKibben. Emily Atkin.
O papel da universidade
A verdade é que professores universitários, pesquisadores e gurus da sustentabilidade são aqueles que conduziram as pessoas como eu, ao caminho errado. Ainda hoje, nos baluartes da educação superior, algumas vozes proeminentes professam que podemos reinventar os negócios de uma vez por todas. Alguns acadêmicos se opõem, mas seguem marginalizados. Por conseguinte, MBAs em sustentabilidade garantem que alunos fiquem soterrados no fundo das salas calculando emissões de carbono, presos a uma caixa de soluções do tipo “ganha-ganha” de operações verdes, como se isso fosse a solução para a mudança climática. Eles não podem se agitar, influenciar as políticas da empresa, politizar-se, nem mesmo falar com o CEO. Apesar de seus títulos, não podem afetar a mudança climática nem a verdadeira sustentabilidade. Pior ainda: mostrar a ineficácia dessa estratégia corrompida — porque se opõem tão descaradamente ao status quo estabelecido — pode fazer com que um funcionário seja rotulado de instável ou assustadoramente radical. Um amigo e colega de uma grande empresa com aspirações ecológicas agressivas enfrentou, por anos, enormes dificuldades para conseguir fazer com que a empresa finalmente se comprometesse com “soluções de carbono orientadas pelo mercado”, o nível regulador mais básico possível (e isso apenas para concordar que tais soluções eram aceitáveis, não para defender suas adoções).
Infelizmente, a maioria de nós profissionais ainda não conseguiu encontrar uma saída que nos tire dessa caixa. Mesmo as empresas que entendem isso — a Salesforce, por exemplo, que realmente é líder em uma das espécies de ação eficaz que descrevo — ainda enfatiza sobremaneira a solução para o problema de sua própria pegada de carbono em seus documentos públicos, deixando apenas para as notas de rodapé a fundamental atuação no exercício de poder e na prática de lobby que a empresa executa tão bem. O grande sopro por parte das empresas americanas pode ter começado com a bênção e o impulso dados ao setor de combustível fóssil, mas isso foi aceito e implementado por pessoas que faziam parte daquele mundo — os gurus e líderes de sustentabilidade, as universidades e empresas, bem como think tanks.
Um futuro feito por nós
Um jornalismo como aquele feito pelos verdadeiros contadores de histórias citados anteriormente é uma das formas para conseguirmos sair dessa situação. Contudo, transformar em tendência esse nível de integridade e investigação é difícil em um mundo “controlado”: Emily Atkin escreve para a MSNBC, que publica anúncios falsamente ecológicos sobre algas da ExxonMobil, em um caso em que a empresa está sendo processada. É por isso que a universidade é ainda mais importante. Embora as próprias universidades sejam fortemente influenciadas pelos dólares oriundos do setor de combustível fóssil, elas são possivelmente mais independentes do que a imprensa e podem dar início a uma onda de mudança na nossa compreensão acerca das empresas sustentáveis, voltando suas pesquisas e seu conteúdo programático para abordagens que realmente discutam o problema do clima, em vez de fingir que fazem isso. A obscura, ainda que digna, Alliance for Research on Corporate Sustainability está abarrotada de apóstatas e insurgentes que entendem os pontos levantados nesta análise. Como resultado, podem começar a fazer com que as pesquisas deixem de se voltar para mesquinharias eruditas a respeito de pontos de interesses insignificantes e passem a apontar o raio trator da academia para as verdadeiras soluções para o problema climático. Essas soluções, para reiterar, não devem girar em torno da eficácia do recurso ou de cálculos complicados que mostrem que fazer o bem agrega valor ao acionista, mas em torno do exercício do poder, da revolução, o tipo de estudo realizado por Theda Skocpol, mas com um viés corporativo. A questão não é a indagação comum sobre a classe corporativa: “Como as empresas podem tirar vantagens sendo ecológicas?”, mas “Como as empresas podem ser parte, e até instigar, uma revolução social e política benéfica?”. A ironia está no fato de sabermos que isso pode ser feito, uma vez que o setor de combustível fóssil tem obtido muito sucesso fazendo exatamente o oposto.
É possível também que empresas acordem e finalmente cumpram as promessas do movimento sustentável. Embora a esperança não seja uma estratégia eficaz, há, contudo, sinais de que isso está acontecendo, ainda que as ações provocadas por isso sejam excessivamente evolucionárias para promover uma rápida mudança. Larry Fink, CEO da BlackRock, maior administradora financeira do mundo, vem abordando o assunto constantemente em reuniões de conselho, fazendo, mais recentemente, um apelo para que as empresas de seu portfólio obtenham neutralidade de carbono até 2050. É verdade que isso deixa de lado a questão política do assunto, mas tem como alvo boa parte do mundo corporativo. Enquanto isso, a crescente ameaça climática está começando a mudar o setor bancário, primeiro na Europa, e de recursos financeiros dos Estados Unidos, que está se afastando de investimentos voltados para o setor de combustível fóssil, financeiramente arriscados e moralmente falidos. Pode ser que os governos também acordem, como parece ser o caso dos Estados Unidos, e aprovem leis que valorizem a externalidade, forçando empresas e a sociedade como um todo a fazer sua parte quanto ao que é certo e realmente importa. A agressividade do presidente Joe Biden na questão climática é quase chocante, mas ele precisa de apoio da comunidade corporativa.
Por fim, movimentos sociais como Black Lives Matter, que estão expondo a inadequação das atitudes corporativas no que se refere à justiça — e a duplicidade da conversa progressiva minada pelos bastidores das atividades políticas e por doações políticas antiprogressistas — naturalmente vão incentivar importantes ações voltadas para o clima, uma vez que a questão climática também é, afinal, questão de justiça. Além disso, soluções como separação entre dinheiro e política e maior acessibilidades dos eleitores também ajudam movimentos que discutem as questões climáticas. O apoio corporativo ao movimento Black Lives Matter é uma parte do trabalho difícil, moral e aparentemente arriscado que envolve o movimento em prol das questões climáticas.
O que sabemos que não pode sobreviver é o status quo, uma vez que ele promete ser fiel a uma divindade falsa, que pressupõe que as empresas, livres de restrições, nos salvarão. Como escreve Cormac McCarthy: “Vive em silêncio o deus que lavou aquela terra com sal e cinza”.¹
Nota
¹ Onde os velhos não tem vez, Cormac McCarthy. Tradução: Adriana Lisboa. Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 2006.
Leia também: “Do discurso sustentável à prática de greenwashing”