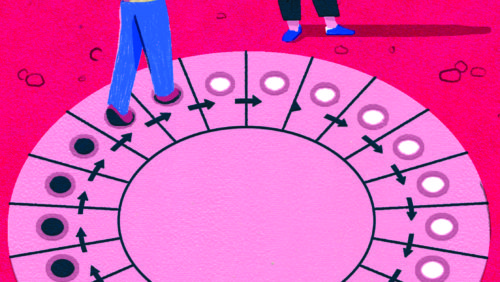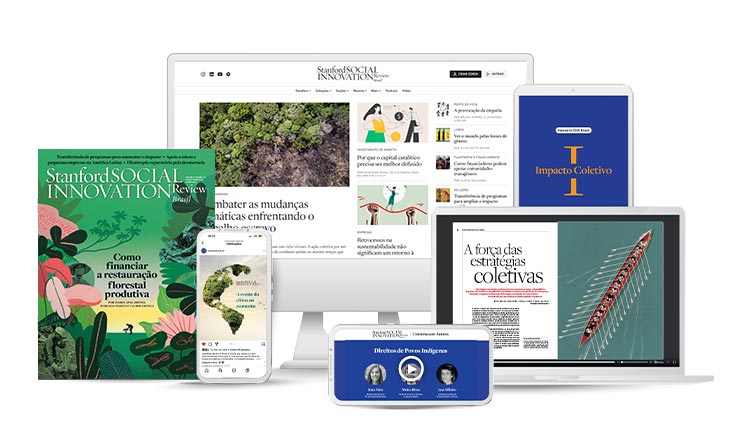À medida que os efeitos das mudanças climáticas se agravam e aumentam as preocupações sobre a necessidade de proteger o meio ambiente e a biodiversidade, os órgãos reguladores do sistema financeiro ficam mais atentos ao modo como as empresas informam os investidores e a sociedade sobre os riscos climáticos de seus projetos. A Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC, na sigla em inglês) iniciou em março deste ano um processo para propor um projeto de lei exigindo que as empresas divulguem os riscos financeiros relacionados aos impactos das mudanças do clima. Do outro lado do mundo, a Comissão Europeia desenvolve uma taxonomia de produtos financeiros para encorajar investimentos mais sustentáveis.
Um fator crucial que as empresas e investidores muitas vezes ignoram ao avaliar os riscos climáticos são os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Estudos atestam que quando esses direitos — principalmente os direitos à terra — são respeitados, a preservação da biodiversidade e a estabilidade climática são mais efetivas. O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de 2019, sobre mudanças climáticas e uso da terra, por exemplo, mostrou que práticas agrícolas que incorporam o conhecimento indígena e local são mais eficazes no combate ao desmatamento e à perda da biodiversidade. E um estudo publicado em 2020 no periódico Frontiers in Ecology and Environment revelou que terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas ou de sua propriedade são as mais bem preservadas e com maior biodiversidade no planeta. Florestas nativas e ecossistemas com grande biodiversidade são extremamente importantes para a mitigação das mudanças climáticas porque, sem sua capacidade de sequestrar carbono e regular a temperatura, o mundo não conseguirá atingir as metas do Acordo Climático de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais.
No entanto, quando os povos indígenas tentam defender seus direitos à terra, muitas vezes são ameaçados, atacados e até mortos. De acordo com dados apresentados pela organização não governamental (ONG) Global Witness, entre 2012 e 2020, mais de 1.540 defensores e ambientalistas foram assassinados ao tentar proteger suas terras. O relatório de análise global de 2021 da Front Line Defenders, organização que atua na defesa dos direitos humanos, constatou que 211 líderes que defendiam o meio ambiente e os direitos de povos indígenas foram assassinados em 2020 — 26 deles eram indígenas. Desde 2017, a ONG documentou o assassinato de 420 lideranças que lutavam pelos direitos de povos indígenas. A impunidade para esses ataques é a regra, não a exceção.
Mesmo diante da visão empresarial estreita de maximizar lucros e proteger investidores, a incapacidade de respeitar os direitos indígenas expõe companhias e investidores a riscos judiciais, políticos, operacionais e reputacionais variados, como atrasos no projeto e até seu cancelamento completo, resultando em significativas perdas financeiras. No entanto, as empresas diretamente implicadas na violação dos direitos à terra raramente informam seus investidores sobre os riscos a que estão sujeitos ao operar nas proximidades ou dentro de terras de povos indígenas e de comunidades tradicionais. Essa má conduta pode afetar as finanças das empresas e ainda acelerar a degradação ambiental, as mudanças climáticas e as violações de direitos humanos.
Reconhecendo a importância de respeitar os direitos de povos indígenas, alguns bancos, corretoras e gestoras de ativos instituíram políticas para identificar, avaliar, evitar e mitigar esses riscos. Em 1999, o Fundo de Investimento Social Calvert foi pioneiro no setor ao adotar formalmente critérios independentes — baseado em instrumentos internacionais — para proteger os direitos de povos indígenas, tornando-se assim uma das primeiras empresas a utilizar um quadro de critérios pautado em direitos para selecionar investimentos. Seu exemplo foi seguido em 2003 pela gestora de ativos Trillium, que instituiu parâmetros seletivos que examinavam as políticas e ações das empresas para saber se elas “haviam apresentado algum padrão de comportamento desrespeitoso ou de exploração” em relação aos povos indígenas. Em março de 2021, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, reafirmou sua convicção de que as empresas devem “obter (e manter) um consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos povos indígenas para as decisões empresariais que afetem seus direitos”. As instituições reguladoras de valores mobiliários também começam a reconhecer a importância desse tipo de informação. Atualmente, a Comissão Europeia está discutindo o Non-Financial Reporting Directive [Regulamento para Relatórios Não Financeiros, ou NFRD, na sigla em inglês], no intuito de criar mais transparência na forma como as empresas gerenciam desafios sociais e ambientais.
Como defensoras atuando na interseção entre direitos indígenas, direitos humanos, proteção ambiental e responsabilidade dos investidores, acreditamos que as empresas devem adotar medidas mais robustas quando se trata de direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais e suas terras. As normas legais internacionais que garantem esses direitos já estão consagradas. Casos que analisamos no mundo todo — alguns de nosso próprio trabalho com organizações sem fins lucrativos de direitos humanos e climáticos, e outros realizados por colegas — demonstram que ignorar esses direitos implica atrasos, processos judiciais e perdas financeiras para as empresas e seus investidores. Para evitar que isso ocorra, empresas devem adotar políticas corporativas e instituições reguladoras precisam formular regras concretas exigindo a divulgação de participação em atividades que afetam os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Sugerimos que todas as partes trabalhem com critérios bem específicos ao considerar esses direitos em relação à operação do negócio em si, aos riscos climáticos, e aos padrões ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês).
Conexão com a terra
Povos indígenas e comunidades tradicionais guardam uma relação de profundo respeito ao ambiente, têm maneiras únicas de se relacionar com a terra e com as pessoas, e vivem de acordo com critérios muitas vezes não compreendidos, não valorizados ou desrespeitados por pessoas de fora.
Para eles, a terra não é simplesmente um bem ou um meio de produção. Suas histórias e identidades estão enraizadas em seus territórios por memórias, tradições e práticas religiosas e culturais. O Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (UNPFII) explica que as “relações profundas dos povos indígenas com suas terras — um elemento fundamental para sua sobrevivência espiritual, religiosa, cultural e física — muitas vezes entram em conflito com os interesses (corporativos e governamentais)” quando se trata de obter lucros e explorar recursos naturais.
A exploração de petróleo, a mineração, o agronegócio e projetos de construção de grande envergadura podem ameaçar a sobrevivência dos povos indígenas. De acordo com o UNPFII, “o impacto dessas atividades inclui danos ambientais às terras tradicionais, além de perda da cultura, do conhecimento tradicional e dos meios de subsistência”.
É importante salvaguardar o direito de autodeterminação dos povos indígenas quando as corporações entram em acordo ou começam a desenvolver projetos que envolvem suas terras, territórios e recursos naturais.
Os prejuízos causados pela destruição ambiental e pelas mudanças climáticas afetam não só os meios de subsistência dessas populações, mas também sua relação com a terra, e sua capacidade de manter sua identidade e seus costumes. Os povos indígenas diferem muito entre si. Muitos de seus territórios são geridos coletivamente, com complexas redes de relacionamentos, direitos de uso e estruturas variadas de tomada de decisão. Há grupos, principalmente os povos da floresta, que não vivem como agricultores presos a um pequeno pedaço de terra, mas baseiam seus sistemas de cultivo num sistema rotativo de plantio que se estende por grandes áreas. Os caçadores-coletores, por exemplo, passam muito tempo na floresta, em acampamentos e assentamentos, às vezes localizados a vários dias de viagem de suas comunidades, onde caçam, pescam e coletam plantas medicinais e materiais como argila — elementos essenciais para seu estilo de vida.
Em regiões remotas da Amazônia, da Papua Ocidental e das Ilhas Andaman, alguns povos indígenas continuam a viver em isolamento voluntário. Qualquer tentativa de estabelecer contato ou operar em seu território viola os direitos dessas comunidades à autodeterminação, pode forçá-los a se deslocar ou impor-lhes sérios riscos à saúde devido à exposição a doenças transmissíveis. Mesmo um simples vírus de gripe pode dizimar populações inteiras, como aconteceu com metade dos Nahua, na Amazônia peruana, que foram mortos pela doença nos meses posteriores ao contato com madeireiros em 1984.
Autodeterminação é lei
A relação especial dos povos indígenas e das comunidades tradicionais com suas terras motivou o surgimento de uma série de normas jurídicas internacionais para protegê-la. As empresas e os investidores precisam estar cientes dessas leis e normas para mitigar vários riscos.
A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos de Povos Indígenas (UNDRIP, na sigla em inglês), a Declaração Americana Sobre os Direitos de Povos Indígenas, a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais (OIT 169) e a jurisprudência de órgãos como a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) estabeleceram que, se as atividades de empresas ou de projetos comerciais impactarem os povos indígenas, elas não poderão prosseguir sem o consentimento livre, prévio e informado desses povos, e caso violem seus direitos, deverão ser sumariamente interrompidas.
Aprovada em 2007, a UNDRIP fornece uma lista de direitos que “constituem as condições mínimas de sobrevivência, dignidade e bem-estar de povos nativos do mundo”. Como todas as pessoas, os povos indígenas também têm seus direitos garantidos pelos instrumentos internacionais de direitos humanos, incluindo a Carta das Nações Unidas e o Tratado da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, a UNDRIP de 2007 foi dedicada especificamente aos povos indígenas. Na época em que foi aprovada, 144 Estados-membros das Nações Unidas votaram a favor e somente 4 — Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia — foram contra. Em 2016, os quatro países reverteram suas posições.
Um dos direitos fundamentais definidos na UNDRIP é o da autodeterminação. O Mecanismo de Peritos da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas (EMRIP, na sigla em inglês), um programa composto por sete especialistas que assessoram o Conselho de Direitos Humanos sobre os Direitos de Povos Indígenas, explicita que todos os direitos estão vinculados à autodeterminação: “as culturas de povos indígenas incluem manifestações tangíveis e intangíveis de seus modos de vida, visões de mundo, conquistas e criatividade e devem ser consideradas como uma expressão de sua autodeterminação e de suas relações espirituais e físicas com suas terras, seus territórios e seus recursos naturais”.
A autodeterminação engloba necessariamente o direito dos povos indígenas de tomar decisões e ter direitos iguais de participação em projetos que os afetem. O artigo 26 da UNDRIP declara que “povos indígenas têm direito às terras, aos territórios e recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido”, e têm o direito de “possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido”. Por isso, quando as corporações fazem acordos ou começam a desenvolver atividades que envolvam terras, territórios e recursos desses povos, é extremamente importante salvaguardar os direitos de autodeterminação.
Além da UNDRIP, em 2016 os países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) — todos os países das Américas exceto Cuba — aprovaram a Declaração Americana dos Direitos de Povos Indígenas, que também confirma o direito à autodeterminação desses povos. Como a UNDRIP, a Declaração Americana reconhece uma série de direitos inerentes à gestão e controle de territórios, incluindo os direitos à propriedade tradicional — o que significa que os povos indígenas não precisam de um título legal para que o governo solicite e/ou obtenha seu consentimento.
Embora a Declaração Americana, assim como a UNDRIP, seja um documento não vinculante, dos 35 estados-membros da OEA, 25 ratificaram ou aderiram à Convenção Americana de Direitos Humanos — um instrumento vinculante que entrou em vigor em 1978. A convenção criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a CIDH para defender direitos fundamentais, como o direito à propriedade e à proteção judicial.
Finalmente, 23 países ratificaram a OIT 169, acatando assim as obrigações vinculantes do tratado. Essa convenção determina direitos específicos de povos indígenas e comunidades tradicionais, incluindo o “direito de decidir sobre suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento caso ele afete suas vidas, crenças, instituições, bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou usam”.
Todas essas normas internacionais criaram uma estrutura de boas práticas para os povos indígenas exercerem seus direitos de autodeterminação via consentimento livre, prévio e informado. De acordo com esses princípios, o consentimento deve ser dado livremente por pessoas que conheçam perfeitamente as potenciais consequências do empreendimento antes de tomar qualquer decisão e de acordo com seus próprios processos decisórios. Ou seja, os povos indígenas não podem ser coagidos ou manipulados a tomar decisões. Suas deliberações devem ser feitas em seu tempo, suas próprias normas e/ou leis tradicionais. Eles precisam entender e participar das tomadas de decisão, podem dar ou negar seu consentimento durante os estágios de planejamento e esse consentimento deve continuar durante as fases de concepção e implementação do projeto. Além disso, devem ter acesso a especialistas jurídicos e técnicos, e ser informados em sua própria língua, para que entendam as implicações [impactos] de qualquer escolha sobre suas vidas e façam opções conscientes.
Se os povos indígenas ou comunidades tradicionais decidirem retirar o consentimento ou recusar qualquer tipo de negociação, o projeto não poderá prosseguir legalmente, porque fere o direito desses povos à autodeterminação sobre suas terras, territórios e recursos. Em resumo, para obter uma licença de operação, qualquer empresa precisa solicitar o consentimento livre, prévio e informado em um processo pautado por direitos e com um desfecho que respeite totalmente a decisão da comunidade indígena em questão.
Direitos e risco
Considerando que existe um consenso global de apoio aos direitos de autodeterminação e controle de suas terras pelos povos indígenas, a transgressão corporativa desses direitos muitas vezes gera conflitos que levam a riscos legais, políticos, reputacionais, financeiros e operacionais para as empresas e seus investidores.
Nossa análise de relatórios enviados à SEC revela que as empresas não estão divulgando as violações potenciais ou reais dos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais ou de seus recursos, apesar dos claros riscos financeiros envolvidos. A seguir apresentamos exemplos de riscos relevantes — quase sempre omitidos — a que organizações do mundo todo estão sujeitas. Em muitos dos casos, as empresas se viram obrigadas a relatar — para a SEC ou para a imprensa — perdas financeiras significativas por se recusarem a respeitar os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais.
Os riscos legais referem-se à possibilidade de tribunais locais anularem concessões fornecidas pelo governo por violações de direitos à terra, de haver ações judiciais resultantes de desrespeito aos direitos humanos durante a execução dos projetos e de ocasionar disputas legais diante de órgãos internacionais como a CIDH. Continuar com um empreendimento sem o consentimento livre, prévio e informado pode significar grandes atrasos nos cronogramas dos projetos caso tribunais internos ou internacionais determinem que a empresa retorne a um estágio anterior ou que realize nova análise ambiental para consultar adequadamente as comunidades afetadas.
A empresa petrolífera Occidental Petroleum (OXY), com sede em Los Angeles, passou oito anos respondendo a um processo judicial nos tribunais norte-americanos movido pelas comunidades Achuar, do norte do Peru, pela contaminação ambiental e os impactos na saúde de suas populações provocados pelas operações. Em 2015, quando finalmente a OXY concordou em investir uma quantia não revelada em programas de desenvolvimento nas comunidades Achuar, o processo foi encerrado. Nossa análise dos documentos regulatórios que a OXY envia anualmente à SEC mostra que, de 2007, ano em que a ação foi ajuizada, até o acordo, em 2015, não houve qualquer menção ao processo, aos direitos das terras indígenas nem tampouco à oposição da comunidade como um risco ao empreendimento.
Decisões de tribunais internacionais também podem afetar indiretamente as empresas. Em 2007, a CIDH ordenou que fossem feitas mudanças na lei e em sua aplicação depois que o governo do Suriname autorizou a operação de várias empresas madeireiras e mineradoras a trabalharem no território tradicional do povo indígena Saramaka sem seu devido consentimento.
Na decisão, o tribunal reafirmou os direitos dos povos indígenas e de suas propriedades comunitárias, direitos esses que exigem medidas especiais que garantam sua sobrevivência física e cultural de acordo com a lei internacional de direitos humanos. O tribunal também declarou que a ação estadual e a legislação local “não eram suficientes para garantir ao povo Saramaka o direito de controlar efetivamente seu território sem interferência externa”.
Danos imprevistos, ou uma falha em envolver as pessoas afetadas na tomada de decisões, podem levar a complicações e retrocessos que bloqueiam as operações da empresa – a um custo significativo.
O tribunal determinou que o Suriname revisse e tratasse de modificar suas concessões de mineração e de exploração de madeira de acordo com a sentença, e atualizasse as disposições legais para garantir completo gerenciamento e controle das terras e dos recursos naturais no território coletivo dos Saramaka. Como o governo do Suriname reluta em implementar a decisão judicial, o povo Saramaka decidiu continuar lutando em defesa de suas terras.
Cortes e legislações nacionais [de vários países] estão integrando os requisitos de tratados e convenções internacionais que tratam de povos indígenas, aumentando os riscos para governos e empresas caso projetos avancem sem o consentimento livre, prévio e informado das comunidades afetadas. Em outubro de 2021, a Suprema Corte da Noruega decidiu que, de acordo com convenções internacionais, as fazendas de energia eólica Storheia e Roan, localizadas em território do povo Sami, criadores de renas, violavam os direitos dessa comunidade. Além disso, o tribunal revogou as autorizações de funcionamento das 151 turbinas eólicas. No entanto, o tribunal não definiu como tudo deveria ser feito, nem se as turbinas deveriam ser removidas, deixando tanto o governo como a empresa num limbo legal e operacional até que seja definido como cumprir a ordem do tribunal.
Em decisão similar de 2021, a Suprema Corte do Canadá, emitiu um parecer favorável à Blueberry River First Nations, declarando que seu direito de caçar, pescar e capturar animais dentro de seu território tradicional tinha sido violado pelo governo estadual, que concedeu permissões para várias atividades industriais sem a aprovação da comunidade. A decisão gerou uma significativa incerteza regulatória para os proponentes do projeto na província e abriu uma brecha para uma futura redução no ônus legal para a First Nations mostrar que a empresa e empreendimentos comerciais violam seus direitos. Essas decisões sinalizam que os direitos indígenas estão sendo implementados de acordo com regras locais no mundo todo, e que todos os atores precisam entender esses fatores como essenciais para suas métricas de avaliação de perfis de risco.
Os riscos políticos podem incluir referendos, legislação ou novas regulamentações que atrasam, suspendem ou até impedem um empreendimento. Um exemplo ocorreu em 2017, em Cajamarca, Colômbia, em que um referendo vinculativo rejeitou os planos de US$ 35 bilhões para a abertura de uma mina de ouro da AngloGold Ashanti (na documentação anual daquele ano enviada à SEC, a AngloGold Ashanti não mencionou a oposição da comunidade). Em outro exemplo, o Tribunal Constitucional do Equador decidiu que as concessões de mineração na floresta de Los Cedros eram inconstitucionais e cancelou definitivamente todos os projetos de mineradoras. E na Libéria, em 2018, o Congresso do país aprovou a Lei dos Direitos à Terra, ampliando direitos de posse de terras tradicionais às comunidades locais.
Insegurança social e conflitos causados pela impugnação de um projeto também podem causar atrasos significativos nas atividades empresariais. Muitas vezes os governos não conseguem consultar as comunidades indígenas afetadas antes de liberar uma concessão ou aprovar a instalação de um projeto. Mesmo que os povos afetados inicialmente concordem com um projeto, prejuízos não previstos ou a impossibilidade de envolver as comunidades afetadas nas tomadas de decisão podem levar a complicações e repercussões que impedem tais atividades, causando grandes prejuízos financeiros para as empresas.
O caso do conglomerado de azeite de dendê Sime Darby Berhad, da Malásia, ilustra o risco político de se ignorar os direitos à terra de povos indígenas e tradicionais, assim como a interação de riscos políticos com riscos operacionais e legais. Em 2009, a Sime Darby assinou um contrato de concessão de uso de 220 mil hectares de terras por 63 anos no noroeste da Libéria. Essa área representa 20% das terras da Sime Darby. O governo liberiano concedeu o uso da terra livre de ônus para o conglomerado que, por sua vez, se comprometeu a pagar ao Estado US$ 5 por hectare anualmente e a empregar mais de 30 mil liberianos. A previsão inicial era de que o projeto envolveria investimentos de US$ 3,1 bilhões ao longo de 15 anos.
No entanto, a Sime Darby nunca obteve o CLPI da população local. Em novembro de 2012, mais de 150 representantes de comunidades afetadas pelas plantações de palmeiras declararam que nenhuma consulta havia sido feita — e tampouco eles tinham consentido — antes de as terras serem cedidas ao conglomerado.
Por outro lado, a Lei do Direito à Terra aumentou o poder das comunidades tradicionais no país. Nos anos seguintes ao investimento inicial da Sime Darby, a Libéria aprovou várias leis referentes ao consentimento livre, prévio e informado e aos direitos à terra que aumentavam as possibilidades de embargar um projeto ou de que ele sofresse novos atrasos por litígios dispendiosos. Com a nova legislação em vigor e uma contínua insegurança que crescia entre os grupos afetados, a Sime Darby precisaria dialogar com 55 diferentes comunidades para obter os consentimentos necessários para desenvolver o projeto. A julgar pela experiência anterior do conglomerado, um processo como esse levaria até dois anos, e algumas comunidades poderiam acabar se recusando a abrir mão das terras ou negociando uma redução na área cedida para plantio. Nenhum resultado atraía o grupo econômico.
A Sime Darby acabou gastando mais de US$ 200 milhões nas operações da Libéria e declarou um prejuízo de US$ 26,81 milhões no ano financeiro de 2018. Em 2019, vendeu seu ativo de plantações por US$ 1 acima do valor contratual. Nos três meses em que a venda foi negociada, a empresa amargou uma perda líquida de US$ 10,6 milhões e uma queda de 3,5% no seu faturamento.
Os riscos reputacionais geralmente decorrem de publicidade negativa causada por violações de direitos humanos, desmatamento e poluição. A sociedade espera que as empresas não causem danos e, além disso, em nosso mundo digital e globalizado do século 21, resíduos tóxicos ou vazamento de petróleo na Amazônia peruana não passam mais despercebidos. Cenas de destruição ambiental produzida por uma empresa podem resultar em danos permanentes para sua imagem e sua reputação e até para seu relacionamento com clientes, acionistas e instituições financeiras. Os povos indígenas hoje se mobilizam e protestam durante reuniões de acionistas, convocando a imprensa e instaurando processos judiciais para alertar investidores sobre violações de direitos. Todas essas ações aumentam os riscos se as empresas continuarem operando sem a chamada due diligence, a averiguação minuciosa da documentação e análise de risco.
A luta da comunidade Sioux de Standing Rock, Dakota do Norte, Estados Unidos, contra a construção do oleoduto subterrâneo da Dakota Access Pipeline (DAPL, na sigla em inglês) em seu território demonstra como o risco reputacional se interconecta com riscos políticos, jurídicos e operacionais. Já em 2014, o grupo indígena havia expressado seu desejo de modificação do projeto para que o oleoduto não atravessasse seu território. Em 2016, os Sioux instauraram um processo judicial contra o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, ao qual a empresa proponente, Dakota Access — uma sociedade de responsabilidade limitada, subsidiária da Energy Transfer Partners —, logo se juntou como acusada interveniente. Ao mesmo tempo, a comunidade indígena lançou campanhas na imprensa mostrando como o oleoduto violava seus direitos. Apesar da ação judicial pendente e das mensagens claras da comunidade indígena comunicando sua oposição, a Energy Transfer Partners continuou a construção do oleoduto e, no processo, destruiu antigos cemitérios e objetos de extremo valor cultural e espiritual não só da comunidade Sioux de Standing Rock, mas também de outros grupos em toda a região das Grandes Planícies. Povos indígenas e aliados do mundo todo se reuniram em Standing Rock para protestar contra a construção do oleoduto. O movimento #NoDAPL chegou a reunir 15 mil pessoas no local e outros milhões seguiram as manifestações de perto pelas redes sociais e pela imprensa. A resposta da empresa e a ação da polícia local aos protestos resultaram na prisão de defensores da água, o que levou a mais violações de direitos humanos e civis.
A oposição dos Sioux não só criou vários problemas para a Energy Transfer Partners e o projeto DAPL, mas também disparou uma campanha de comunicação bem-sucedida visando as instituições financeiras que forneciam os recursos para a construção do oleoduto. Depois de selecionarem investidores socialmente responsáveis e de se reunirem com várias instituições financeiras, muitos bancos europeus suspenderam seu apoio ao empreendimento. Uma análise realizada em 2018 pela First Peoples Worldwide, um programa da University of Colorado, em Boulder, dedicado a aumentar a responsabilidade corporativa em relação aos povos indígenas, mostrou que, apesar do custo inicial estimado em US$ 3,8 bilhões, o oleoduto custou mais que o triplo quando foi concluído, em junho de 2017, depois de sofrer perdas financeiras acumuladas causadas por longos atrasos na construção devido à instabilidade social e aos processos judiciais. Além disso, as ações da Energy Transfer Partners tiveram um desempenho muito abaixo do esperado e a empresa sofreu uma perda de valor de mercado de longo prazo, que persistiu mesmo depois da conclusão do projeto. De agosto de 2016 a setembro de 2018, suas ações sofreram uma desvalorização de quase 20%, enquanto o índice S&P 500 registrou um aumento de quase 35%.
Apesar dos protestos dos indígenas e da aliança formada com alguns investidores, o petróleo começou a escoar pelo oleoduto em junho de 2017. No entanto, as dificuldades jurídicas e operacionais continuaram. Em julho de 2020, James E. Boasberg, juiz de um Tribunal Regional dos Estados Unidos, ordenou que o oleoduto fosse fechado para que o governo federal pudesse fazer uma nova e mais completa análise do impacto ambiental. O julgamento se baseou principalmente nas declarações dos nativos que alegaram não terem sido consultados nem para a análise de requisitos mínimos para o desenvolvimento do projeto e que, por isso, teria de ser considerada insuficiente. Essa decisão acabou se tornando um precedente importante ao mostrar que a consulta é um ponto inegociável da avaliação de risco e da análise ambiental para mitigar riscos legais, reputacionais e sociais.
Em fevereiro de 2022, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos negou a apelação da empresa proponente, encerrando definitivamente a ação judicial. Embora a comunidade Sioux e outros grupos tenham aplaudido essa decisão, o petróleo continua a escoar pelo oleoduto, sob o lago Oahe, e não existe nenhuma norma em vigor para intervir em uma situação de emergência caso haja um vazamento — o que mostra que, mais de cinco anos depois da conclusão do oleoduto, os potenciais riscos operacionais continuam sendo subavaliados.
O caso da DAPL não é isolado. Prejuízos econômicos e violações dos direitos dos povos indígenas ocorrem no mundo todo. A empresa de petróleo canadense ReconAfrica enfrenta atualmente uma crescente fiscalização em seu campo de perfuração exploratória de petróleo e gás na frágil natureza selvagem da Namíbia e Botsuana, região que abrange a bacia hidrográfica do delta do Okavango e seis reservas de vida selvagem mantidas por comunidades locais.
Os membros dessas comunidades estão preocupados porque as primeiras atividades de exploração da ReconAfrica já podem ter violado seus direitos. A lei da Namíbia exige que as empresas garantam não só que povos nativos sejam consultados, mas também que sejam notificados publicamente sobre qualquer projeto proposto e que possam levantar questões que devem ser incluídas no relatório de avaliação final para receber a aprovação do governo. Em março de 2021, a ReconAfrica divulgou uma avaliação preliminar mas, para vários indivíduos e organizações de defesa dos direitos, a consulta era extremamente restrita: não havia traduções disponíveis nos dialetos locais e a empresa impôs limites à quantidade de participação de pessoas das comunidades, ignorou perguntas e cancelou sessões. Em maio de 2021, um agricultor local ajuizou uma ação contra a ReconAfrica por falta de consulta à população. Percebendo a oposição crescente, a empresa ameaçou processar os jornalistas que faziam a cobertura do processo. O líder de uma área de preservação administrada por membros da comunidade local diz temer por sua vida por ter se manifestado contra.
A relação especial dos povos indígenas e das comunidades tradicionais com suas terras fez surgir uma série de normas jurídicas internacionais para protegê-la. As empresas e os investidores precisam estar cientes delas para mitigar vários riscos.
Em maio de 2021, uma denúncia anônima apresentou uma queixa à SEC dos EUA alegando que a ReconAfrica havia enganado os investidores sobre seus planos de explorar depósitos de petróleo e gás na região, apresentando aos investidores projeções de lucros baseadas em atividades para as quais não tinha permissão ou autorização. O denunciante alegou também que a empresa “não revelou os valores pagos pela publicação de materiais de terceiros ou seus interesses financeiros nas ações da empresa”. A National Geographic relatou que um dia após ter solicitado que a empresa se manifestasse sobre as denúncias, a ReconAfrica apresentou novas informações e modificou os relatórios submetidos aos órgãos reguladores canadenses.
A natureza transnacional desses projetos demonstra a necessidade de identificar, avaliar e mitigar todos os tipos de riscos para garantir a proteção de povos indígenas e comunidades tradicionais e diminuir efetivamente o risco para os acionistas e investidores.
Os riscos operacionais podem se originar de protestos da comunidade e bloqueios que visam atrasar ou até obstruir permanentemente um projeto ou exigir informações inacessíveis. Uma pesquisa realizada pela Corporate Social Responsibility Initiative [Iniciativa de Responsabilidade Social Corporativa] da Harvard Kennedy School mostrou que “atualmente, a maioria das empresas extrativistas não identifica, conhece e agrega todo o leque de custos de um conflito com as comunidades locais”. Os danos causados à comunidade podem custar a projetos de mineração de US$ 20 milhões a US$ 30 milhões por semana.
No pior dos casos, os investidores podem até perder toda a sua participação acionária. Veja o caso do Block 64, no qual um grupo de empresas — incluindo a Occidental Petroleum, a Talisman (atualmente Repsol) e a GeoPark — tentou explorar poços de petróleo em seu campo na Amazônia peruana. Block 64, como o campo é conhecido, situa-se no meio das terras dos povos Achuar, Wampis e Quéchua. Na verdade, desde a criação desse campo, em 1995, pelo menos nove empresas petrolíferas adquiriram concessões para perfuração, mas todas elas acabaram desistindo, depois de uma ferrenha oposição dos membros das comunidades locais.
A Amazon Watch analisou os documentos regulatórios apresentados à SEC nos períodos em que essas empresas mantiveram contratos com o Block 64, e praticamente não encontrou nenhuma menção de oposição das comunidades indígenas às operações de exploração de petróleo do grupo. A única empresa que chegou mais perto de mencionar essa oposição foi a Talisman, que em seu relatório de março de 2012 a descreveu como uma “federação local” (provavelmente aludindo à Federação da Nacionalidade Achuar do Peru [FENAP]) que havia bloqueado um rio, impedindo o transporte de funcionários da Talisman.
A última empresa petrolífera a deixar o bloco foi a GeoPark, que anunciou sua saída em julho de 2020. A decisão da GeoPark foi tomada depois de seis anos de oposição das comunidades indígenas. Esse movimento começou com a declaração de intenções da FENAP para forçar a saída da GeoPark, depois do início das atividades de exploração da empresa no bloco, em 2014. Em 2018, a nação Wampis manifestou sua oposição, denunciando a GeoPark. A oposição indígena fez a GeoPark desistir de um estudo sobre o impacto ambiental em 2019. Naquele mesmo ano, as comunidades apresentaram uma queixa-crime contra a GeoPark para anular completamente o Block 64 por falta de consulta. Em 2020, foi a vez dos Wampis entrarem com uma queixa crime contra a GeoPark pelo perigo que a permanência dos empregados da empresa representava para a comunidade durante a pandemia de Covid-19.
Embora os documentos da GeoPark submetidos à SEC em 2020 discutissem a decisão da empresa de se retirar do Block 64, a oposição da comunidade não foi mencionada. No entanto, um prejuízo de US$ 34 milhões devido à desistência estava registrado. Tanto os documentos regulatórios de 2017 como os de 2018 enviados à SEC mencionaram custos de construção de pelo menos US$ 36,8 milhões — indicando que a empresa pode ter perdido mais de US$ 70 milhões em sua desastrada participação no bloco.
Averiguação e divulgação
Muitas vezes, é preciso que as empresas cumpram normas e padrões internacionais por não poderem se apoiar nas políticas de proteção de povos indígenas nacionais dos governos dos países onde operam. Por isso, os investidores precisam ter pleno conhecimento dos riscos decorrentes da violação dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Além disso, a SEC e outros órgãos reguladores devem exigir que todas as empresas prestem os seguintes esclarecimentos sobre suas operações diretas, bem como de seus fornecedores diretos e indiretos:
De que forma seu modelo de negócios impacta as questões sobre direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, incluindo as cadeias de fornecedores, contratados e subcontratados.
Os nomes de todos e quaisquer povos indígenas e/ou comunidades tradicionais cujos territórios (tanto legalmente reconhecidos como atualmente em fase de reconhecimento legal) sejam de alguma forma atingidos pelas operações da empresa ou diretamente afetados por ela (por exemplo, poluição de rios por resíduos de atividade petrolífera).
Todas e quaisquer reivindicações ou queixas sobre direitos à terra apresentadas por comunidades locais nas áreas de operações da empresa, a resposta da empresa e declarações dos queixosos sobre como eles avaliaram a resposta.
Quaisquer processos abertos nos quais a empresa esteja tentando consultar ou obter consentimento de povos indígenas ou comunidades tradicionais que possam ser afetados por uma atividade planejada ou em processo de planejamento pelo emissor, subsidiária ou fornecedor.
Todos os processos de consulta realizados no ano anterior, incluindo informação sobre qual entidade realizou a consulta e, se o consentimento foi obtido, como os povos indígenas afetados expressaram esse consentimento.
Todos os processos judiciais nos Estados Unidos e/ou em jurisdições de outros países relacionados a disputas de direitos à terra, processos de consulta e consentimento ou outros assuntos sobre direitos indígenas.
Todos os projetos assumidos pela empresa ou subsidiárias que exijam a realocação de comunidades tradicionais e/ou grupos indígenas, incluindo toda e qualquer indenização monetária ou de qualquer outra espécie fornecida em troca da realocação.
Qualquer empresa, subsidiária, ou fornecedor cujas operações impliquem o uso da terra e do subsolo deve prestar esses esclarecimentos. Embora eles se apliquem mais especificamente à agricultura, mineração, petróleo e gás, infraestrutura de energia, exploração de madeira e biocombustíveis, esses setores não são os únicos implicados nessas questões. Em 2016, por exemplo, povos indígenas de Oaxaca, México, interromperam a construção de uma fazenda de energia eólica pelo consórcio Energía Eólica del Sur, do qual participava um banco de investimento australiano, depois de demonstrar claramente que os povos indígenas próximos da cidade de Juchitán de Zaragoza não haviam sido devidamente consultados pelo governo. A divulgação das informações deve se aplicar a qualquer setor, subsidiária ou fornecedor cujas operações envolvam qualquer tipo de uso da terra.
Além disso, todas as operações futuras deverão divulgar completamente os impactos com o mesmo nível de sofisticação e integridade com que outros requisitos ESG são tratados. Isso pode ser feito instituindo políticas de averiguação que garantam a proteção dos direitos indígenas nas operações e em toda a cadeia de suprimentos. É necessário respeitar os direitos dos povos indígenas em todos os aspectos ESG e nos compromissos com o clima para entender completamente um nível de risco ESG. Implementar o consentimento livre, prévio e informado de acordo com uma abordagem baseada em direitos permitirá que as empresas não só evitem conflitos e atrasos onerosos, mas também coletem dados sobre os principais indicadores de risco ESG relacionados aos direitos humanos e à sustentabilidade. Esses dados, por sua vez, podem ser divulgados aos acionistas e emissores. Como as previsões indicam um aumento acentuado nos efeitos das mudanças climáticas, uma ação em tempo real sobre a averiguação e divulgações que incluam todos os riscos humanos, climáticos e comerciais é absolutamente necessária e urgente.
Leia também: “Uma bioeconomia para coevolução com a Amazônia“