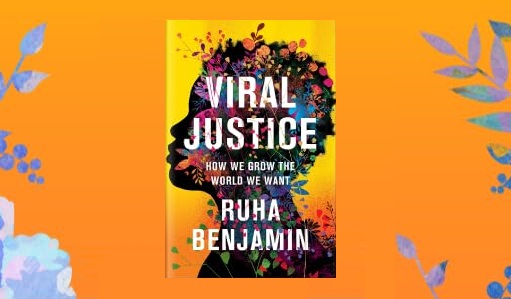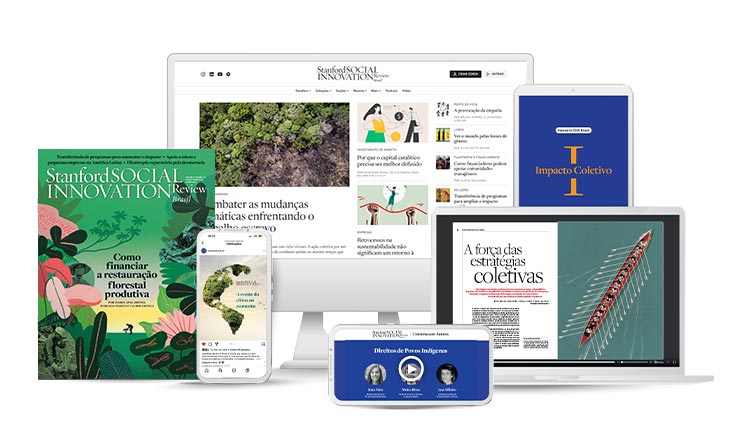É uma certa ousadia usar a metáfora de um vírus para representar um novo marco para mudanças sociais. Mas é justamente isso que faz Ruha Benjamin em seu cativante novo livro, Viral Justice: How We Grow the World We Want (Justiça viral: Como cultivar o mundo que desejamos, em tradução livre).
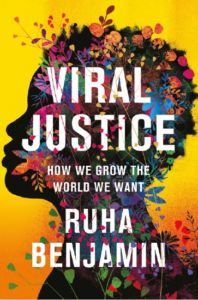
“Vírus não são nosso maior inimigo”, sustenta Benjamin, que é professora de estudos afro-americanos na Princeton University e diretora fundadora do Ida B. Wells Just Data Lab. Em Viral Justice, ela encara o conceito de vírus não como causador de uma doença mortal e transmissível, mas como modelo para uma construção coletiva de mundo – o que ela chama de reworlding (“remundar”), ou reordenar nossos valores e prioridades.
A viralidade é o princípio organizador de sua teoria da transformação social – cuja disseminação viral começa no indivíduo e se expande para além dele mediante engajamentos com outras pessoas, influenciando de forma positiva suas escolhas e ações. Em última análise, essa visão “exige que cada um de nós confronte individualmente o modo como participa de sistemas injustos, mesmo quando, em teoria, defende a justiça”. Ao fazê-lo, o vírus não é algo que acontece conosco, mas algo sobre o qual temos algum poder. “Este é um chamado à ação, para que indivíduos recuperem o poder sobre como intenções, hábitos e ações moldam o ambiente mais amplo – tanto quanto são moldados por ele”, ela observa.
Combinando autobiografia e estudos sociológicos, Benjamin analisa as camadas de discriminação internas aos sistemas de saúde, de educação e de encarceramento dos Estados Unidos, a fim de mostrar de que modo malefícios sistêmicos fazem uso de “múltiplos caminhos para se entranhar em nós”. Para lançar luz ao constante medo de violência que os americanos negros vivenciam, ela conta sua história pessoal. “Durante a maior parte da minha infância, eu dormia na defensiva”, observa. “Tiros imaginários interrompiam meus sonhos noite após noite. Foi por isso que a morte de Breonna pela polícia no meio da noite me afetou tão profundamente.” Breonna Taylor estava dormindo, quando sua casa foi alvejada 20 vezes pela polícia em Louisville, Kentucky, em março de 2020. O argumento e os exemplos que se seguem no livro são uma continuação do tema de ameaça, que inclui não apenas a realidade da violência e de seus efeitos cumulativos intergeracionais, mas também o temor incessante que se impregna num nível celular.
Esses efeitos cumulativos são conhecidos como “enfrentamento”, termo usado por Benjamim para descrever “como incorporamos estressores e opressores no ambiente mais amplo e como esse processo provoca doenças evitáveis e morte prematura”. Eles produzem vários tipos de desigualdade e têm sua origem em sistemas humanos. “Ambientes hostis são feitos e refeitos diariamente por meio de automatismos tanto de instituições quanto de indivíduos”, afirma.
Assim como o próprio conceito de vírus, “enfrentamento” tem valência positiva e negativa: os enfrentamentos deterioram um corpo, mas o termo também é aplicado para descrever persistência – como em “enfrentar a tempestade”.
O racismo incrustado no sistema de saúde, por exemplo, é camuflado pelos pretextos repetidos e imprecisos, que remetem a doenças preexistentes atribuídas à genética, a uma suposta hesitação ante vacinas e tratamentos médicos, e à “pele espessa” dos negros, que “não racha” – para sugerir que pessoas negras não sentem dor da mesma forma que as brancas. Essa culpabilização salienta a importância do modo pelo qual os enfrentamentos podem servir como “uma ideia de saúde pública e como um referencial para se compreender e desafiar a maneira com que as vidas e o futuro de todos são afetados pelo racismo contra o negro”, diz Benjamin.
O enfrentamento é também um produto de séculos de escravidão, encarceramento e de um permanente policiamento e vigilância. Essa violência de Estado é uma brutalidade institucionalizada que, observa Benjamin, provoca elevação da pressão sanguínea, acelera o envelhecimento e causa problemas de saúde mental. Assim, ela reitera, as disparidades raciais de saúde não são biológicas, e sim socialmente produzidas ao longo do tempo.
As páginas finais do Viral Justice, de Ruha Benjamin, são um testamento de resiliência humana, de sentido encontrado em pequenas ações e do cultivo de um jardim com uma semente.
Mas ainda que as mudanças estruturais, imersas em burocracia e processos políticos, sejam intrinsicamente lentas, Viral Justice não sucumbe ao desespero. Em vez disso, defende que a autopercepção e a responsabilização sejam os pontos de partida para erradicar esses malefícios sistêmicos.
A autora propõe uma espécie de “faça você mesmo”, prática que deve ser cultivada com o intuito de compensar uma ineficácia institucional. Transformar o enfrentamento não é algo que vá demandar poderes mágicos. “Demanda apenas que comecemos a planejar – encorajando-nos mutuamente, reinventando nossas relações”, diz ela. “Irrigando as alternativas que desejamos cultivar e sempre colocando amor em tudo o que fazemos.”
Benjamin observa que “a ameaça jamais foi o indivíduo comum ou ‘o outro’. Foi sempre o indivíduo no espelho”. Por isso, o caminho a seguir “requer que se cultivem novos hábitos internamente, semeando modos restaurativos de estar juntos interpessoalmente, desenraizando práticas de desigualdade institucionalmente e plantando possibilidades alternativas estruturalmente”.
Essa estratégia depende de uma disposição pessoal para se modificar – para trabalhar em si mesmo –, a fim de melhorar a saúde e o bem-estar da nação. À luz da crescente violência contra comunidades marginalizadas e da intensificação das divisões políticas, esse otimismo pode, em alguns momentos, parecer ambicioso demais ao leitor.
Mas a viralidade, enfatiza Benjamin, é o caminho a ser seguido que nos ajuda a vislumbrar de que modo nossa ação individual pode fazer da mudança sistêmica e social uma realidade. O conceito representa o poder dos relacionamentos e das conexões interpessoais. O trabalho interno começa por fazermos perguntas a nós mesmos, pela interrogação de nossas crenças e da linguagem que usamos. Micromudanças podem acontecer mediante o uso intencional de linguagem orientada pela justiça ou por formulações que explicitem a injustiça sistêmica ao torná-la gritante. “Se você for dono de microempresa”, sugere a autora, “talvez possa começar dispondo um neon em que se leia ‘A supremacia branca só vai acabar quando os brancos a virem como um problema que eles precisam resolver, e não como um problema dos negros com que precisem empatizar’, como fez a Glory Hole [loja de donuts] na Gerrard Street em Toronto”.
As soluções propostas para injustiças e enfrentamentos sistêmicos apontam para uma abolição. Benjamin reitera a importância da retirada de financiamento e da abolição definitiva do “sistema de policiamento, punição e encarceramento”, acrescentando que “um elemento-chave da empatia mediante justiça viral encontra-se intimamente atrelado a experimentos na criação de um mundo sem polícias”.
Como escritora vivendo no Paquistão, ler a crônica de Benjamin sobre a escravização dos negros nos Estados Unidos me fez lembrar do fantasma da colonização global do Império Britânico e dos efeitos de enfrentamento provocados pelas políticas opressivas que ainda fervilham sob a superfície em muitos países, incluindo o subcontinente indiano – Índia, Paquistão e Bangladesh. A história britânica de excessos imperiais continua amplamente excluída de seus livros escolares, o que sugere ausência de remorso e de introspecção nacional por parte da Grã-Bretanha. Por isso, a ideia de reparações parece improvável quando tantas pessoas estão dispostas a, no máximo, reconhecer erros de maneira cosmética, mas não a apoiar reparações.
Assim sendo, para concordar com Benjamin, um reworlding dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha, ou de qualquer outro país imperialista, faz-se impossível enquanto suas instituições não enfrentarem e repararem o que ela chama de “mentiras fundacionais – como o mito da meritocracia – sobre as quais nossas sociedades foram construídas”. Em vez disso, precisamos de um ambiente de aprendizado transformativo que “disponha uma fundação diferente, tijolo por tijolo, nos corações e mentes de jovens cuja confiança só podemos conquistar dizendo a verdade”.
Suas recomendações incluem reinventar escolas “como laboratórios para cultivar empatia e solidariedade”; investir em “mediação e processos de justiça restaurativa” em escolas; priorizar “o recrutamento e a retenção de professores não brancos”; e integrar “ao currículo a história negra e os estudos étnicos”. A última diretriz é hoje um crucial ponto de discórdia em todos os Estados Unidos, uma vez que pais e professores – desconstruindo o ensino de história sob a bandeira da “teoria crítica da raça” – estão a denunciar a educação infantil em função das inúmeras histórias que têm sido suprimidas no país.
As páginas finais do livro são um testamento de resiliência humana, de sentido encontrado em pequenas ações, imbuindo de beleza o trivial e cultivando um jardim com uma semente. Quando um indivíduo se importa com o outro, um bairro se torna uma comunidade; uma comunidade, uma cidade; uma cidade, um país; um país, um continente; e um continente, o mundo inteiro.
Atos interpessoais de benevolência multiplicam-se em empatia coletiva, pondo em movimento o processo de reworlding, no qual nenhum ato de apoio e assistência é irrelevante. “Justiça viral”, afirma Benjamin, “não tem que ver com distopia, ou com utopia, mas com nóstopia.”
Num momento em que o coronavírus descortinou uma nova realidade e em que nós como sociedade ainda não choramos por todos aqueles que perdemos – muitos sem nem mesmo dizer adeus, sem um último abraço e sem derradeiros ritos sociais ou religiosos –, precisamos lembrar do “nós” no que parece ser nossos mundos cada vez mais compartimentados. O Viral Justice é aquela “beleza teimosa, uma alegria que se recusa a ajoelhar-se em derrota” num mundo afligido por uma pandemia e num país, os Estados Unidos, maculado por racismo e colorismo.
A AUTORA
Mehr Tarar é autora de Do We Not Bleed? e de Leaves from Lahore (Nós não sangramos? e Folhas de Lahore, em livre tradução). É colunista, foi editora assistente do Daily Times, Pakistan e anfitriã de um talk show.