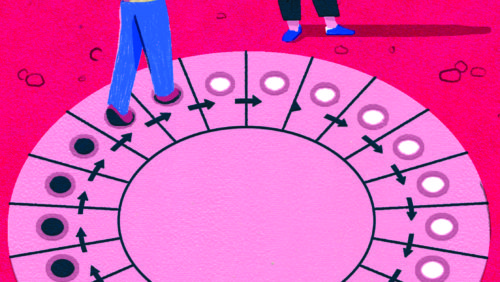“Se eu tivesse uma hora para salvar o planeta, passaria 55 minutos definindo a pergunta e 5 minutos resolvendo-a.” — Albert Einstein
Nos últimos anos, temos testemunhado uma tendência clara e desanimadora de retrocesso democrático global. A erosão da confiança nas instituições democráticas, a aceleração da fragmentação social e das desigualdades, além do colapso da curiosidade nos debates públicos, contribuem para a sensação de que vivemos o que a jornalista Anne Applebaum chamou de “o crepúsculo da democracia”. As mudanças na forma como nos conectamos, especialmente em nossos ecossistemas digitais, são ao menos parcialmente responsáveis por impulsionar essa crise democrática, incluindo o aumento da desinformação e o declínio do capital social.
No entanto, como diz o ditado, toda crise carrega em si sementes de oportunidade. Enterrada em nosso dilema atual – e até mesmo em uma de suas causas – há uma solução em potencial. Democracias são resilientes e adaptativas, não estáticas. E, principalmente, dados e inteligência artificial (IA), se implementados com responsabilidade, podem contribuir para essa resiliência. Tecnologias como assembleias digitais com suporte de IA e plataformas de crowdsourcing mostram como a IA generativa e os modelos de linguagem podem melhorar a conectividade comunitária, a saúde social e os serviços públicos. As comunidades podem usar essas ferramentas para participação democrática e democratização da informação. Neste período de transição tecnológica, formuladores de políticas públicas e comunidades estão imaginando como as tecnologias digitais podem engajar nossa inteligência coletiva da melhor forma.
Fazendo perguntas melhores para fortalecer a democracia
Criar comunidades diversas entre disciplinas e setores – incluindo academia, tecnologia, ciência de dados e artes – exige organizar e manter uma curiosidade compartilhada. Para isso, são necessárias novas ferramentas e abordagens, especialmente o processo coletivo de fazer perguntas melhores.
Formuladas de forma inclusiva, as perguntas ajudam a estabelecer prioridades comuns e conferem foco, eficiência e equidade às políticas públicas. Por exemplo, os sistemas educacionais conseguem identificar dados e padrões de comportamento, como taxas de frequência escolar baixas, que indicam risco de evasão. Porém, raramente se perguntam o que faz com que alguns estudantes em risco superem os desafios e concluam os estudos, enquanto outros não. É um bom relacionamento com professores? Um programa extracurricular? Apoio familiar? Ou uma combinação desses e outros fatores? Perguntas sobre exceções, incluindo fatores ignorados ou negligenciados, ajudam a redirecionar programas e políticas para áreas de maior impacto potencial.
Deixar de fazer as perguntas certas pode ter efeitos adversos. Muitos governos municipais, por exemplo, não questionam como pessoas de diferentes gêneros, idades ou necessidades de mobilidade vivenciam o transporte público. Criar infraestrutura para atender a diversas necessidades aumenta o bem-estar coletivo. Perguntas como “as calçadas são largas o suficiente para carrinhos de bebê?” ou “há transporte suficiente próximo a escolas?” podem revelar áreas prioritárias e mostrar onde dados desagregados por idade ou gênero são mais necessários.
A forma como perguntamos também importa. A explosão do ônibus espacial Challenger, da Nasa, em 28 de janeiro de 1986, é um exemplo notório. Na noite anterior ao lançamento, gerentes e engenheiros da Nasa e da Morton Thiokol, empresa que fabricou um segmento do ônibus espacial, realizaram uma reunião para avaliar se o veículo estava seguro para ser lançado no dia seguinte, e se uma peça específica funcionaria corretamente no frio atípico que fazia então. Durante essa reunião, os gerentes pediram aos engenheiros que demonstrassem que o lançamento não era seguro. No entanto, anteriormente, durante a revisão de segurança, eles haviam sido solicitados a mostrar que era seguro. Como resultado, os engenheiros não conseguiram fornecer evidências suficientes de que a peça em questão não funcionaria corretamente em climas mais frios para adiar o lançamento. Embora muitos outros fatores tenham contribuído para essa falha, ela demonstra o enorme impacto que a formulação de perguntas pode ter.
Grande parte do trabalho recente do centro de pesquisa Governance Laboratory (The GovLab) tem se concentrado em iniciar uma “nova ciência das perguntas”, que seja inclusiva, constante e participativa. Em parceria com o Human Technology Institute e outras entidades, o GovLab explora como incorporar perguntas adaptativas em sistemas contínuos de aprendizado e avaliação para comunidades, governos e filantropias. No centro deste trabalho está a nossa crença de que o desenvolvimento de políticas públicas está travado pela forma como formulamos perguntas e estabelecemos prioridades. Melhorar esse processo pode tornar as políticas mais eficazes, inclusivas e positivas.
De fato, as perguntas que fazemos importam tanto – talvez mais – do que as respostas que encontramos. Elas determinam o foco, o escopo e o tipo de informação que buscamos e ajudam a garantir que os dados coletados sejam relevantes, precisos, acionáveis e inclusivos. O que perguntamos afeta o que medimos. Ao focar na qualidade e na profundidade de nossas pesquisas, podemos construir uma base mais sólida para uma formulação de políticas públicas ponderada e eficaz.
Uma nova ciência das perguntas para a resiliência democrática
Há evidências de que o processo de formular perguntas fortalece a democracia de várias formas. Perguntas constantes e coletivas informam instituições dinâmicas, estabelecem princípios sólidos e ajudam a evitar decisões precipitadas baseadas em suposições superficiais, frequentemente enviesadas. Perguntas mais assertivas podem ajudar a fomentar conversas reflexivas, moldar o debate público e superar a polarização. Elas moldam o que medimos para responsabilizar autoridades eleitas e públicas. Podem aprimorar a tomada de decisões coletivas, explorar o que não sabemos para expandir nossas crenças, mobilizar comunidades para promover mudanças e promover agendas compartilhadas em diferentes domínios e geografias. Perguntas mais assertivas também podem reduzir vieses profundamente arraigados, trazendo novos olhares sobre problemas na formulação de políticas públicas e garantindo que as soluções realmente atendam às necessidades da comunidade. Em última análise, ajudam a orientar uma maior inteligência coletiva.
Apesar desses benefícios, pesquisadores e outros atores têm dado relativamente pouca atenção à formulação e à priorização de perguntas. Muitas vezes, formuladores de políticas públicas estão limitados por paradigmas existentes e pelo acesso restrito a perspectivas diversas. Eles podem se basear em dados desatualizados, sofrer pressão de grupos de interesse e carecer de ferramentas ou estruturas para desafiar suposições enraizadas. Isso frequentemente resulta em uma investigação de escopo estreito, reforçando soluções tradicionais em vez de abordagens inovadoras ou holísticas que poderiam melhor atender ao interesse público. A escassez na criação de perguntas também desencoraja a criatividade na formulação de políticas e leva à má alocação e ao uso ineficiente de recursos financeiros, humanos e técnicos.
O potencial inexplorado das perguntas torna-se ainda mais evidente – e lamentável – diante das possibilidades oferecidas pela inovação tecnológica. Esses avanços proporcionam oportunidades de fazer (e responder) perguntas de formas antes inimagináveis. A inteligência artificial pode analisar vastos conjuntos de dados para descobrir padrões e insights ocultos, permitindo decisões mais direcionadas. Ferramentas analíticas sofisticadas podem ajudar formuladores de políticas a simular cenários e prever resultados, conduzindo a uma governança mais proativa e eficaz. Além disso, a capacidade de realizar crowdsourcing de perguntas e soluções a uma população global e diversa pode democratizar o processo de formulação de políticas, garantindo que ele reflita uma gama mais ampla de experiências e necessidades. Sem um foco mais deliberado e estratégico na ciência do questionamento, a sociedade pode nunca aproveitar plenamente essas capacidades tecnológicas – e, como observado, elas podem até contribuir para danos públicos em vez de benefícios.
Por todos esses motivos, a nova ciência das perguntas do GovLab busca orientar a formulação de políticas para complementar e direcionar os avanços da ciência de dados e da IA. Essa nova ciência utiliza uma variedade de abordagens participativas para coletar, avaliar e priorizar perguntas compartilhadas com diferentes partes interessadas. Ela aproveita o crowdsourcing, a cocriação e a ciência cidadã para incorporar as perspectivas únicas daqueles que estão mais próximos dos problemas mais prementes da sociedade, esforçando-se para fazer isso de maneira inclusiva e democrática. Essas abordagens estruturadas e semiestruturadas para a formulação de perguntas (e para a resolução de problemas) permitem que formuladores de políticas e partes interessadas acessem a inteligência coletiva da sociedade, sendo essenciais para revigorar a democracia.
As cinco etapas de uma nova ciência das perguntas
A inteligência coletiva generativa pode modelar a adoção dessas novas abordagens baseadas em investigação. Embora métodos de investigação existam há séculos, ainda estamos nos estágios iniciais de adaptação de metodologias para instituições modernas e novos fóruns de engajamento público. Apesar de os ciclos de formulação de políticas raramente serem ordenados e lineares, nosso trabalho até agora sugere que a “ciência das perguntas” possui cinco etapas principais:
1 – Pré-pergunta: uma abordagem sistemática e inclusiva para a formulação de perguntas começa com a exploração e o enquadramento da área de interesse, oferecendo uma compreensão básica do tema para orientar a formulação de perguntas. Uma ferramenta para isso é o mapeamento de tópicos, que auxilia na avaliação rápida da amplitude de um problema complexo, resumindo as informações mais relevantes para o contexto e criando um mapa visual (semelhante a um mapa mental ou fluxograma) que ilustra a hierarquia das informações. Pesquisadores também podem usar sistemas de evidência dinâmica para resumir o que se sabe e o que ainda não se sabe sobre um determinado tema. Essas ferramentas ajudam a ampliar as possíveis áreas de questionamento, moldar conexões potenciais e fornecer contexto para a geração de perguntas.
Em parceria com a Unicef e o Futures Institute’s Data for Children Collaborative da Universidade de Edimburgo, o GovLab desenvolveu um mapa temático que ajudou a identificar como a dinâmica familiar, as práticas comunitárias, os sistemas mais amplos e outros fatores impactam a saúde mental de adolescentes. Governos, pesquisadores e outras organizações podem agora usar esse mapa para orientar novas iniciativas de dados. Por exemplo, o mapa mostrou que muitos adolescentes não recebem o cuidado necessário. Assim, formuladores de políticas poderiam perguntar: como a redução dos custos de atendimento impactaria o uso de serviços? Ou: como tecnologias como aprendizado de máquina e sensores poderiam ajudar a identificar melhor aqueles que precisam de atendimento? Um esforço semelhante auxiliou fundações privadas e organizações comunitárias a compreender questões ligadas à reintegração de ex-detentos, mapeando fatores individuais, sociais e sistêmicos que afetam essas pessoas para orientar futuras pesquisas e investimentos.
Em outros lugares, o Democracy Fund defende o uso do pensamento sistêmico para ampliar áreas de questionamento, e a organização More in Common explora a análise de clusters para entender fatores que moldam as perspectivas individuais. Outros exemplos incluem o desenvolvimento de programas de aprendizado construtivo pelo Institute of Socratic Dialogue e a publicação, na Austrália, de uma série de artigos na The Conversation sobre como quebrar o ciclo de desvantagem na infância, que ajudaram a formular perguntas relevantes para políticas públicas.
2 – Pergunta participativa: a próxima etapa envolve a coleta de perguntas de forma equitativa, engajando pessoas com experiência vivida e expertise técnica. Um processo inclusivo utiliza abordagens participativas para formular e agrupar perguntas, fortalecendo a inteligência coletiva e reforçando princípios democráticos.
Diversas iniciativas oferecem bons modelos sobre como coletar uma gama diversificada de perguntas. O Right Question Institute, organização sem fins lucrativos de educação, implementa seu próprio método de design de perguntas em diferentes comunidades e disciplinas. O Siegel Family Endowment criou o processo de financiamento orientado por perguntas para formular questões que sustentam suas decisões de financiamento. Outro modelo é a Iniciativa 100 Perguntas do GovLab, que trabalha para gerar novas perguntas em dez domínios, incluindo migração, gênero e qualidade do ar, com a colaboração de painéis interdisciplinares de especialistas em temas e dados.
Outro aspecto importante é a taxonomia das perguntas. Até agora, o GovLab identificou quatro tipos de perguntas passíveis de serem respondidas com dados: perguntas descritivas, que buscam compreender o estado de uma situação e o que ocorreu no passado; perguntas diagnósticas, que analisam por que essas situações aconteceram; perguntas preditivas, que investigam o que provavelmente acontecerá no futuro; e perguntas prescritivas, que focam no que deve ser feito. Utilizar uma taxonomia ajuda a organizar a formulação de perguntas e a garantir que elas sejam viáveis de serem respondidas usando dados. Também pode ajudar a demonstrar a hierarquia das questões e a importância de entender o contexto antes de fazer perguntas diagnósticas, preditivas e prescritivas.
3 – Pós-pergunta: nesta etapa, busca-se determinar quais perguntas, se respondidas, podem gerar o maior impacto. Nem todas as perguntas têm o mesmo peso; algumas têm o potencial de gerar mudanças maiores, outras são menos práticas ou relevantes. Estabelecer critérios claros nos ajuda a identificar as questões com maior probabilidade de levar a soluções significativas. Esses critérios podem incluir fatores como potencial de alto impacto, novidade e a probabilidade de a questão ser resolvida com dados ou tecnologia.
Utilizamos um processo participativo de priorização inspirado no método Delphi, para investir nossos recursos (tempo, dinheiro e esforços) em perguntas que possam maximizar o benefício social.
4 – Resposta: embora a nova ciência esteja centrada nas perguntas, ela também propõe abordagens para respondê-las. É aqui que a formulação de políticas públicas geralmente começa. Particularmente, a nova ciência enfatiza o uso de dados inovadores e fontes não tradicionais, muitas vezes combinadas.
Para ilustrar como novos métodos e colaboração podem fortalecer a governança, durante a pandemia de covid-19, fontes alternativas foram usadas por formuladores de políticas e especialistas para entender a disseminação do vírus. Dados como padrões de mobilidade, transações econômicas e até análise de redes de esgoto ajudaram governos a monitorar a disseminação do vírus em tempo real, avaliar a eficácia de lockdowns e orientar intervenções de saúde pública. Dados de mobilidade de smartphones, por exemplo, permitiram que autoridades avaliassem o cumprimento das restrições, enquanto a análise de esgoto antecipava surtos em algumas regiões. Essas fontes de dados não tradicionais preencheram lacunas onde os dados de saúde eram limitados, oferecendo uma visão mais ampla e dinâmica da propagação da pandemia e da eficácia das medidas de mitigação. Isso, por sua vez, influenciou decisões sobre testes, alocação de recursos e comunicações de saúde pública.
Um desafio é que esses dados, em geral, são privados, exigindo novas parcerias. Data collaboratives (colaborações de dados) são uma forma emergente de parceria público-privada que ajuda a identificar grupos de dados já coletados e redirecionar para uma finalidade secundária, de interesse público. Elas têm sido usadas produtivamente em diversos casos para fortalecer a formulação de políticas públicas. Por exemplo, em Seul, uma empresa de telecomunicações coreana concedeu à Divisão de Dados e Estatísticas acesso a registros detalhados de chamadas de celular para ajudar a alinhar melhor as rotas de ônibus da cidade com o modo como mulheres e grupos de baixa renda se deslocam à noite.
5 – Feedback e ajustes: a ciência das perguntas não termina com as respostas; trata-se de uma busca pelo questionamento, um processo constantemente atualizado e refinado com base nas respostas dos tomadores de decisão, nas mudanças de contexto e nas pesquisas disponíveis. As organizações podem usar diversos métodos para facilitar esse processo.
Um exemplo onde esse processo pode ser observado vem da iniciativa Thrive: Finishing School Well, na Austrália. O Thrive combina raciocínio bayesiano adaptativo (métodos estatísticos avançados) com percepções da comunidade. O programa promove inteligência coletiva e tomada de decisão adaptativa por meio de ciclos de feedback dinâmicos, nos quais escolas, famílias e departamentos governamentais colaboram para formular perguntas, coletar dados diversos, testar os resultados dos programas e avaliar o que está ou não funcionando, a fim de definir o próximo ciclo de perguntas. Esse processo contínuo atualiza crenças anteriores com base em novas evidências obtidas por meio de análises e programas. Nesse caso, funcionários do departamento estadual de educação e diversas escolas fizeram parcerias com analistas e filantropias para perguntar: quais fatores ajudam os jovens a superar barreiras e concluir os estudos? Após formular essa pergunta e realizar uma análise dos dados escolares, o foco se voltou para a frequência. Em seguida, ao testar as crenças dos jovens e da comunidade com base em novas análises, a pergunta mudou para explorar o sentimento de pertencimento e os relacionamentos dentro da escola. A partir daí, as questões evoluíram para investigar quais tipos de relacionamentos – entre colegas ou com professores – são mais significativos, uma exploração que pode levar à criação de programas de mentoria direcionados.
O Thrive mostra como o governo e a sociedade civil podem, coletivamente, acelerar a formulação de hipóteses, a adaptação de perguntas e a experimentação de programas em estágios contínuos, em vez de esperar por avaliações de cima para baixo ao final de um programa governamental ou filantrópico.
Próximos passos: rumo a uma nova ciência das perguntas
Uma vez que as perguntas mais importantes – e talvez algumas respostas – tenham sido estabelecidas, os formuladores de políticas públicas e outros tomadores de decisão devem se voltar à tarefa de implementar os novos aprendizados.
Olhando adiante, três áreas principais da ciência das perguntas merecem mais investimento e pesquisa. Em primeiro lugar, é preciso refinar e aumentar a robustez da metodologia da ciência das perguntas, identificando quais teorias ou abordagens participativas funcionam melhor e como integrá-las aos sistemas de tomada de decisão. Isso ajuda a superar o mapeamento estático de temas e favorece o uso de perguntas geradoras para reforçar a inteligência coletiva na tomada de decisões. O uso de métodos e ferramentas orientados por dados pode ser útil nesse sentido, dependendo do contexto e da área de aplicação.
Ao mesmo tempo, devemos considerar o que acontece quando nossas perguntas não evoluem – se continuarmos fazendo as mesmas perguntas em um, dez ou 25 anos. Ao identificar onde não há progresso, podemos descobrir quais aspectos da ciência das perguntas mais precisam de inovação e quais têm maior potencial para fortalecer os processos e instituições democráticas. Colocar essa abordagem em prática também exige novas narrativas e modelos orientados por investigação, que tornem claros o propósito, os processos e o potencial da ciência das perguntas.
Em segundo lugar, incorporar as perguntas como parte fundamental dos processos políticos e das conversas públicas ajuda a transitar do uso de dados para o diálogo. No entanto, isso requer uma mudança cultural que valorize a curiosidade, a disposição para lidar com a complexidade e a aceitação da realidade inevitável de concessões no processo de formulação de políticas públicas. Reconhecemos que promover essa mudança no atual clima de polarização é um grande desafio. Cultivar uma cultura do questionamento é um processo com várias etapas, que pode incluir programas de aprendizagem e ações educativas sobre a importância da democracia, mais pesquisas sobre a relação entre perguntas e resiliência democrática, e encontros intersetoriais que incorporem abordagens participativas ao questionamento. Filantropos estão especialmente bem posicionados para atuar entre setores e impulsionar essa transformação cultural.
Por fim, é necessário investir na construção de capacidade e na criação de mecanismos de prestação de contas para essa nova ciência, por meio de instituições dedicadas e financiamento sustentável. Por exemplo, um instituto para perguntas poderia reunir pessoas para aplicar novas ferramentas no contexto das democracias resilientes. Esse novo instituto poderia ampliar iniciativas da ciência das perguntas enquanto estabelece processos, políticas e infraestrutura que assegurem a responsabilidade no enfrentamento das questões propostas.
Para concluir, o futuro da ciência das perguntas depende da nossa capacidade de incorporar a curiosidade e a investigação ao próprio tecido da tomada de decisões. Ao fomentar uma cultura que valorize o questionamento contínuo e ao estabelecer instituições que deem suporte a esse trabalho, podemos garantir que a formulação de políticas permaneça dinâmica, inclusiva e resiliente. A jornada rumo a uma democracia mais reflexiva, resiliente e engajada começa com a formulação de melhores perguntas e com o compromisso de fazer com que elas gerem mudanças significativas.
Leia também: Revitalizar parques para fortalecer a democracia