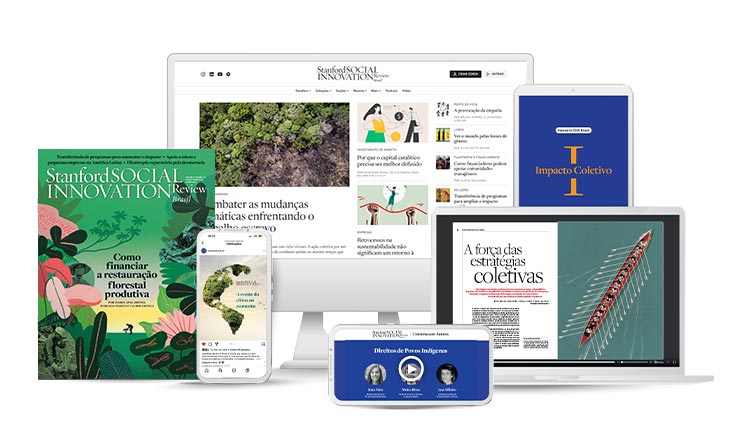Alimentado por milhares de estudantes e cientistas em início de carreira, surgiu recentemente um movimento que pretende transformar o modo de fazer ciência. O objetivo é “expandir as fronteiras do que consideramos ciência”, observa Rajul Pandya, diretor sênior do projeto Thriving Earth Exchange (Ações para a Prosperidade da Terra), da American Geophysical Union (AGU — União Geofísica dos Estados Unidos), “para modificar a ciência e a forma como a utilizamos”.
Cientistas, líderes comunitários e membros da sociedade civil se uniram para criar novos protocolos e métodos para fazer ciência comunitária como uma tentativa de torná-la ainda mais inclusiva e acessível ao público. A ciência comunitária é fruto de dois movimentos anteriores que surgiram para aproveitar as forças democratizantes da internet: ciência aberta e dados abertos. O primeiro é o empurrão para tornar a pesquisa científica acessível e estimular o compartilhamento e a colaboração em todo o processo de pesquisa, enquanto o segundo corresponde ao suporte necessário para que os dados possam ser utilizados, reutilizados e compartilhados gratuitamente por qualquer pessoa.
Os defensores da ciência aberta argumentam que já passou da hora de redefinir as condutas científicas. Durante décadas, a área foi dominada por um modelo que alguns especialistas chamam de science-push (algo como “empurrão da ciência”), uma abordagem de cima para baixo, na qual os cientistas decidem quais investigações seguir, quais perguntas levantar, como fazer ciência e quais resultados são importantes. Se houver um total envolvimento da sociedade civil, seus membros serão os agentes da pesquisa, e não consumidores passivos do conhecimento seletivo que lhes é apresentado pelos cientistas.
A abordagem tradicional da ciência acabou levando a população a desconfiar cada vez mais dos cientistas — de seus motivos, valores e interesses comerciais. Por ser um processo que explora o mundo pela observação e experimentação, procurando evidências que possam revelar padrões mais genéricos, geralmente produzindo novas descobertas, a ciência, em si, não decide quais são os efeitos ou consequências dos resultados obtidos. A devastadora epidemia de opioides nos Estados Unidos — na qual os fabricantes promoveram de modo agressivo drogas com alto poder de causar dependência, minimizando riscos e desinformando os médicos — mostrou que os valores e interesses dos cientistas são extremamente importantes.
Os defensores da ciência aberta acreditam que a ciência deveria ser um empreendimento conjunto entre cientistas e a sociedade para demonstrar o valor da ciência na vida cotidiana da população. Essa colaboração pode mudar a forma como os cientistas, comunidades, agências reguladoras, parlamentares, acadêmicos e financiadores trabalham individual e coletivamente. Cada ator terá mais facilidade de integrar a ciência às tomadas de decisão cívicas, atacar os problemas com maior eficiência e a custos mais baixos. Esse trabalho colaborativo criará novas oportunidades para a ação cívica e dará à sociedade uma maior sensação de propriedade — tornando-a a sua ciência.
Ciência com poder compartilhado
Atualmente a ciência comunitária está inserida em um contexto mais amplo da comunidade de ciência cidadã, onde os profissionais continuam a discutir as diferenças. O fato de expressões como “ciência cidadã” e “ciência comunitária” terem sido, muitas vezes, utilizadas indistintamente fez com que algumas pessoas acabassem se referindo à segunda como “ciência desenvolvida pela comunidade” para destacar a principal diferença entre as duas. Cientistas cidadãos contribuem para a ciência auxiliando ou colaborando com os cientistas para identificar ou responder questões propostas pela pesquisa e coletar dados. Muitos desses esforços são organizados e liderados por cientistas de instituições científicas e órgãos públicos. Entre os portais mais populares de ciência cidadã, podemos citar a Zooniverse, plataforma mantida pela Oxford University, na Inglaterra, e instituições parceiras nas quais os cientistas criam projetos e convidam o público para trabalhar com eles, e a SciStarter, um centro associado à Arizona State University e à North Carolina State University, nos Estados Unidos, que disponibiliza uma base de dados para mais de 3.000 projetos de pesquisa. Somente a Zooniverse tem mais de 2,3 milhões de voluntários inscritos capazes, por exemplo, de ensinar um veículo como o Mars Rover a classificar o solo de Marte, de caçar ondas gravitacionais, de identificar a idade, o sexo e o tamanho de um grupo de baleias beluga e de pesquisar outros itens de uma grande variedade de disciplinas.
Como o nome sugere, a ciência desenvolvida pela comunidade sempre se origina de um problema com impacto coletivo, como grandes enchentes, incêndios florestais e água contaminada com chumbo, que motiva a população a procurar a ajuda de cientistas. Ela não se aplica a todos os campos da pesquisa científica, mas somente àqueles ligados a ações cívicas, como saúde pública, na qual a ciência comunitária foi utilizada para investigar e propor estratégias para questões diversas, desde doenças infecciosas a abuso de drogas, violência doméstica e segurança alimentar. Nas questões ambientais, a ciência comunitária se distribui em diferentes áreas, que incluem controle da poluição, prevenção de riscos de desastres, gestão de recursos naturais e resiliência à mudança climática.
Uma diferença importante entre ciência cidadã e ciência comunitária é o compartilhamento do poder. Na ciência cidadã, os financiamentos em geral são concedidos aos cientistas e suas instituições, que normalmente controlam as decisões sobre os assuntos a serem estudados. Na ciência comunitária, é frequente o cientista e a comunidade serem donos do projeto, enquanto os membros da comunidade ajudam a determinar os temas da pesquisa de acordo com suas necessidades. Nesses casos, a prioridade são melhorias perceptíveis na vida da comunidade — e não a publicação de artigos científicos acadêmicos. Os membros da comunidade podem ou não ajudar um cientista no projeto científico e podem compartilhar recursos financeiros e reformular protocolos de pesquisa. Se um projeto merecer uma publicação acadêmica, a comunidade geralmente compartilha os créditos da pesquisa com o cientista, como no caso do estudo sobre insegurança hídrica em Detroit, nos Estados Unidos, publicado em 2020, no Journal of Public Health, em que os pesquisadores e os líderes comunitários constam como coautores.
A ciência comunitária orientada para a ação cívica é uma das ferramentas que a comunidade pode utilizar para atender a certas prioridades e ajudar nas tomadas de decisão. A contribuição dos nativos americanos e de outros povos indígenas foi decisiva para o desenvolvimento de métodos da ciência comunitária. Seus sistemas incluem conselhos de avaliação formados por nativos que supervisionam a pesquisa e as cláusulas sobre soberania de dados que especificam a propriedade de dados das comunidades indígenas — a resposta desses povos a um longo histórico de abusos nas mãos do modelo “empurrão da ciência”. Em várias nações indígenas dos Estados Unidos e do Canadá, a ciência comunitária é a principal forma de fazer ciência atualmente.
A ciência é insuficiente
Os povos indígenas não são os únicos que criticam as práticas científicas atuais. Os defensores da ciência comunitária listaram uma série de falhas nos sistemas científicos vigentes e nas estruturas que afetam a vida dos cidadãos, apontando deficiências e desigualdades históricas nas práticas acadêmicas e científicas que justificam a necessidade da ciência comunitária. A seguir são apresentadas quatro grandes deficiências na forma como a ciência tradicional é praticada atualmente, as quais interferem na vida da população.
Ciência perdida. Os sociólogos cunharam o termo “ciência perdida” para descrever as pesquisas científicas abandonadas por falta de recursos financeiros ou simplesmente ignoradas, sobre tópicos que a sociedade civil considera importantes. O termo também se refere ao campo de ação desigual no âmbito da ciência. As comunidades, principalmente as marginalizadas ou mais carentes, não têm acesso a equipamentos de monitoramento, a laboratórios, nem têm a expertise necessária para, por exemplo, medir a qualidade do ar ou da água, realizar avaliações sobre impactos na saúde e analisar os prováveis efeitos de grandes obras e do desenvolvimento urbano no seu bem-estar. Mesmo quando as comunidades relatam odores desagradáveis ou água contaminada e adoecem por causa disso, as autoridades ignoram ou minimizam suas queixas.
A incapacidade de utilizar a ciência quando precisam dela tem graves consequências para as comunidades. Sem evidências científicas comprovadas, graves problemas ambientais e de saúde pública continuam secundários e difíceis de comprovar ou remediar. Por exemplo, muitos dos órgãos ambientais estaduais não costumam medir os altíssimos níveis de poluentes nas comunidades mais afetadas — bairros próximos de fábricas, aterros sanitários, empresas de incineração, usinas elétricas, zonas industriais, depósitos de produtos químicos, refinarias de petróleo e gás, centros de distribuição e corredores de transporte de carga. Conforme os procedimentos-padrão, as agências reguladoras calculam a média dos dados sobre áreas muito amplas. Alguns equipamentos de monitoramento são programados para limitar as leituras dos níveis de poluição e estão instalados em locais muito distantes das fontes poluidoras para forçar resultados mais baixos. As agências reguladoras costumam confiar nos dados fornecidos pelas próprias indústrias sobre suas emissões e efluentes e em como elas detectam e relatam a ocorrência de derramamentos, vazamentos e outros acidentes. Os relatórios de impacto ambiental apresentados por construtoras e indústrias poluidoras podem não incluir medições fundamentais ou até subestimar potenciais perigos para as comunidades locais, principalmente aquelas historicamente marginalizadas.
Medidas de impacto não cumulativo. Com exceção de Estados como a Califórnia e Minnesota, nem a Environmental Protection Agency (EPA — Agência de Proteção Ambiental) dos Estados Unidos nem as EPAs da maioria dos Estados são obrigadas a medir a exposição acumulada de diferentes fontes poluidoras. Quando fiscalizam as áreas ou concedem licença para instalações industriais, como refinarias de petróleo, empresas de incineração e indústrias químicas, muitas agências reguladoras emitem licenças para cada fábrica individualmente — e poluente por poluente.
Esse procedimento leva a situações como a enfrentada pela população da zona sudoeste de Detroit. A comunidade predominantemente afrodescendente que vive nessa região está rodeada por mais de 27 grandes instalações industriais dentro de um raio de 5 quilômetros. Como quase metade da população vive abaixo da linha de pobreza e muitos moradores sofrem de cânceres raros e de doenças respiratórias, os membros da comunidade procuraram ajuda por conta própria. Paul Mohai, professor da University of Michigan, ajudou a comunidade a avaliar o impacto cumulativo dos contaminantes no ar, na água e no solo aos quais esteve exposta durante anos, porque nem o Estado nem o governo federal haviam tomado qualquer providência. Em 2019, apoiadores de Mohai e da comunidade deram depoimento ao Congresso sobre as consequências para a saúde de se excluírem as avaliações de impacto cumulativo. Em 2020, depois de uma refinaria próxima ter lançado fumaça tóxica sobre a comunidade, o Estado concedeu recursos para a população instalar filtros de ar na escola de ensino fundamental local.
Monitoramento e mecanismos de controle antiquados. Muitos dos procedimentos, políticas e leis que regulamentam o ambiente e a saúde pública têm mais de 40, 50 anos — foram estabelecidos na era pré-internet. Eles estão desatualizados em relação às técnicas atuais, que permitem um monitoramento em larga escala voltado para medir e analisar novos tipos de poluentes, como materiais particulados finos e compostos orgânicos voláteis.
Os órgãos federais e estaduais não dispõem de mecanismos e recursos para realizar um monitoramento ambiental em larga escala. Em conjunto, o governo federal e os governos estaduais e municipais dispõem de uma rede de aproximadamente 3.900 instrumentos de monitoramento da qualidade do ar, cerca de um monitor para cada 2.600 quilômetros quadrados, e o número de monitores federais vem diminuindo. Alguns equipamentos não são operados adequadamente ou não recebem manutenção. Cerca de 120 milhões de americanos vivem em municípios onde a EPA federal não monitora a poluição produzida por partículas pequenas, a principal causa de doenças respiratórias e cardíacas, além de ser um fator de risco para a Covid-19. A atual rede de monitoramento do governo federal não conseguiu alertar os órgãos reguladores sobre os riscos de dez das maiores explosões de refinarias na década passada. Mesmo quando os moradores relatam incidentes, poucos inspetores treinados e com equipamento adequado estão disponíveis para investigar. A maior parte das regulamentações e das medidas de mitigação necessárias não é cumprida.
Ativistas da saúde pública e da justiça ambiental acusam as agências de ficarem passivas até que surjam reclamações, quando já ocorreram danos consideráveis. Ao se propor uma nova obra, as discussões públicas costumam ser marcadas com o processo já avançado e, em geral, os procedimentos para a intervenção pública são tão complicados que se tornam inviáveis. Muitas vezes, o ônus recai sobre as comunidades mais vulneráveis, com poucos recursos para reunir evidências e mobilizar expertise para provar e documentar a gravidade do problema. Pode levar anos até a EPA ou as autoridades estaduais ambientais e da saúde começarem uma investigação, e mais tempo ainda, até que esses órgãos reconheçam e dimensionem o problema. Durante todo esse período os membros da comunidade continuam expostos aos perigos.
Muitos Estados sequer relatam ao governo federal ou aos moradores locais violações nos padrões da água potável. A água fornecida a pelo menos 25 milhões de americanos não atende aos padrões de saúde vigentes. Os regulamentos vigentes isentam as indústrias de petróleo e gás de cumprir certas disposições da legislação referente à preservação da qualidade do ar e dos mananciais hídricos, bem como ao fornecimento de água potável confiável.
Com essas omissões, muitos dos métodos de modelagem e coleta de dados que o governo e as indústrias utilizam atualmente acabam levando a uma falsa ideia sobre os reais riscos ambientais e sanitários. Além disso, muitas agências reguladoras não dispõem dos mecanismos e procedimentos necessários para incorporar as informações sobre fiscalização ou mitigação que as atuais ferramentas de rastreio e mapeamento permitem. Quando tais informações são utilizadas, isso geralmente ocorre de forma ad hoc, caso a caso, e, na maioria das vezes, elas não servem como evidência em processos judiciais.
Marginalizados pela academia. Para os defensores da ciência comunitária, o ambiente acadêmico está mais preocupado em publicar artigos em revistas científicas e garantir financiamento para suas pesquisas do que em utilizar a ciência para atender às necessidades públicas e promover a igualdade e a justiça social. Na hora de obter um cargo ou um título acadêmico, pode não ser relevante trabalhar em projetos comunitários. E ainda pode reduzir as perspectivas de uma carreira acadêmica para jovens cientistas.
Sacoby Wilson, diretor do Center for Community Engagement, Environmental Justice and Health (CEEJH — Centro para o Engajamento, Justiça Ambiental e Saúde da Comunidade), da University of Maryland, e novo membro do Science Advisory Board (Conselho de Consultoria Científica) da EPA, é o principal defensor de se dar maior destaque à ciência comunitária na academia. No simpósio da CEEJH sobre justiça ambiental e disparidades de saúde realizado em agosto de 2021, Wilson ressaltou que boa parte da ciência acadêmica dos EUA é extrativa, ou “ciência-helicóptero”: “Você estuda a dor das pessoas, percebe o quanto elas estão angustiadas e como estão sendo envenenadas, mas isso não é suficiente. O que fizemos para transformar esses dados em ações para essas comunidades?”. Centros como o CEEJH garantem fundos para os estudos científicos, mas precisam lutar muito para obter apoio a fim de que essa ciência chegue até as comunidades carentes. O objetivo da maioria dos programas de auxílio à pesquisa acadêmica do governo e do setor privado não é aproximar a ciência da ação cívica, o que perpetua os ciclos de financiamento que excluem a ciência comunitária.
Movimento em ascensão
A ciência comunitária é desejada pela população há décadas. Um projeto anterior que ajudou a mobilizar o setor foi implantado na cidade de Mebane, na Carolina do Norte, em meados da década de 1990. Como acontece com a maioria das cidades do sul nos Estados Unidos, muitos bairros negros de Mebane não dispunham de serviços básicos, como água e esgoto, em razão de uma lei conhecida como “jurisdição extraterritorial”, que ainda vigora em vários Estados do sul. De acordo com essa lei, as autoridades municipais definem os limites da cidade de modo a empurrar os bairros de maioria negra e indígena para fora desse perímetro. Consequentemente, é negado a essas comunidades minoritárias o direito de eleger as autoridades municipais. A cidade não é obrigada a fornecer-lhes os serviços básicos, mas ainda mantém a jurisdição sobre zoneamento e regulamentação de terras.
Nos bairros de Mebane onde residem negros e indígenas, bactérias provenientes da infiltração de fossas sépticas e o vazamento de produtos químicos de indústrias próximas contaminaram o solo e os poços de água. Em 1994, o Departamento de Transportes estadual anunciou planos para usar recursos federais na construção de um corredor viário interestadual de oito pistas que atravessava esses bairros, destruindo igrejas, casas e cemitérios históricos dos negros. Como as autoridades municipais e estaduais ignoraram seus pleitos, no final daquele ano quatro casais negros criaram uma organização sem fins lucrativos, a West End Revitalization Association (WERA — Associação para a Revitalização da Zona Oeste), a fim de documentar as ameaças que a construção do corredor e a falta de infraestrutura de saúde pública impunham a essas comunidades e buscar soluções legais. Em 1999, a WERA aproveitou a participação do governo federal no financiamento do corredor viário para entrar com uma ação administrativa no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A WERA contestava a construção do corredor viário citando inúmeras violações de direitos civis e de saúde pública.
Quando a WERA procurou se associar a pesquisadores da universidade para documentar a contaminação da água e do solo em sua demanda, ela sabia que os modelos de community-based participatory research (CBPR — pesquisa com participação comunitária) propostos pelos pesquisadores gerariam artigos acadêmicos, mas não levariam à ação corretiva que o grupo buscava. Então a WERA decidiu desenvolver um modelo de pesquisa próprio que atendesse às suas metas de compliance. O modelo foi denominado community-owned and managed research (COMR — pesquisa de propriedade e gestão da comunidade). Os principais investigadores eram membros da comunidade que gerenciavam o processo de pesquisa, detinham a propriedade dos dados científicos e recebiam recursos financeiros diretamente do governo e de fundações privadas.
Como a maioria dos cientistas não foi treinada para trabalhar com comunidades e não sabe por onde começar, a colaboração e a produção coletiva de conhecimento são muito desafiadoras
Do ponto de vista organizacional da WERA, a ciência precisava se inserir num contexto mais amplo que abrangesse o zoneamento, processos de licenciamento e sistemas reguladores herdados de um racismo histórico que contribuíam para os problemas, e, obviamente, os recursos legais que poderiam trazer soluções. Mas se a WERA não conseguisse transformar a pesquisa científica em ação, a pesquisa em si de nada adiantaria. Mais tarde, a organização formou parcerias com universidades, juristas e outros profissionais que concordaram em utilizar o modelo COMR. Essas alianças são outra característica da ciência comunitária.
A WERA levou anos para conseguir treinamento e financiamento suficientes para implementar seu modelo. No final, ela acabou mobilizando verbas federais para financiar uma rede de água e esgoto para aproximadamente 100 casas, mas a maioria dos moradores negros e pardos de Mebane ainda espera por esses serviços. É comum que os esforços comunitários levem de 15 a 20 anos para ter resultados, em parte porque organizações de justiça ambiental como a WERA foram as que menos receberam recursos de instituições filantrópicas. Um estudo realizado pela New School em 2020 mostrou que organizações de justiça ambiental receberam somente cerca de 1% das doações filantrópicas ambientais na parte sul da Costa do Golfo e no Meio Oeste dos Estados Unidos.
Apesar desses desafios, nos últimos anos novas tecnologias e maior capacidade de redes interconectadas tornaram a colaboração entre cientistas e a comunidade mais fácil e mais barata e produziram dados de nível igual ou superior aos dados estaduais e federais. Em uma década, a ciência cidadã estava bem consolidada na educação superior, com centros acadêmicos, laboratórios e cargos no corpo docente de faculdades. Milhares de cientistas e outros profissionais começaram a participar de novas associações de ciência cidadã na América do Norte, Europa, Austrália, Ásia e América Latina, formando comunidades ativas. O Congresso americano aprovou uma lei que autoriza e estimula órgãos federais a incorporar mais ciência cidadã e colaboração pública em suas atividades. Em 2018, pelo menos 14 agências federais participavam de atividades de ciência cidadã e ciência comunitária. Outras tantas participam de uma comunidade federal para compartilhar as melhores práticas e aprimorar o desenvolvimento de profissionais dessas duas novas disciplinas.
O governo do presidente Donald Trump foi marcado por uma hostilidade aberta à ciência, e a legitimidade das pesquisas científicas foi duramente contestada. Cientistas em início de carreira e alunos da área de ciências exatas e da computação estavam cada vez mais insatisfeitos com a separação que viam entre ciência acadêmica e suas aplicações na sociedade. Em reuniões, em conferências e nas mídias sociais, era clara a forma como as autoridades desprezavam e marginalizavam a ciência tanto na política como nas tomadas de decisão. Os movimentos por justiça racial, social e ambiental que se intensificaram durante esse período levaram os jovens cientistas a questionar se a ciência que praticavam também refletia seus valores. Eles perceberam que as pessoas negras também desconfiavam da ciência. Muitos pesquisadores tratavam as comunidades nas quais trabalhavam como cobaias. Utilizavam o material biológico das pessoas para outras finalidades, sem o consentimento delas, e lucravam com suas descobertas sem oferecer a elas nenhum tratamento para as moléstias que pesquisavam.
Enquanto a administração do ex-presidente Trump atacava os cientistas e contribuía para um crescimento inexpressivo da ciência comunitária nos Estados Unidos, a Europa abraçou completamente o movimento. Em 2013, a União Europeia aprovou um programa multibilionário para financiar a inovação em pesquisa — o Horizon 2020 —, com a finalidade de promover a competitividade global europeia em ciência e pesquisa. A União Europeia investiu quase US$ 600 milhões na seção “Ciência com e para a Sociedade” do programa de fomento ao engajamento da população na ciência.
À medida que a ciência comunitária ganhava novo impulso, o movimento se firmava na corrente da ciência tradicional. A AGU, maior associação americana de cientistas especializados em temas terrestres e espaciais, percebeu que apoiar a ciência comunitária poderia ajudar a promover seus objetivos organizacionais. Como outras associações científicas, a AGU atendeu aos pedidos de seus associados para abordar questões de justiça e igualdade social, incluindo a falta de diversidade racial e étnica na própria associação. As geociências são a área com menos diversidade entre as ciências exatas e não se preocuparam em aumentar sua diversidade racial e étnica por mais de 50 anos. Em 2016, somente 6% dos doutorados em geociências foram concluídos por membros de minorias sub-representadas. As comunidades negras são desproporcionalmente afetadas pelas mudanças climáticas, mas constituem somente 8% dos profissionais que trabalham em geociências.
A direção da AGU prometeu mudar a cultura e a forma de fazer ciência. Robin Bell, ex-presidente da AGU, dirigindo-se aos associados na reunião de 2020, disse que essa mudança é possível quando se observam “os exemplos e as melhores práticas dos cientistas que trabalham em justiça ambiental, mostram como proceder e abrem canais de apoio institucional” para que mais cientistas possam entender sua importância e aprender como incorporar a justiça ambiental em suas atividades.
O método TEX
A partir dessa nova estratégia, a AGU resolveu investir em ciência comunitária. Desde 2013, o programa Thriving Earth Exchange (TEX — Ações para a Prosperidade da Terra) funcionou como um centro difusor onde os cientistas aprendem como se engajar em ciência comunitária e propor pesquisas que envolvam questões de justiça ambiental. O TEX vem desenvolvendo e implementando métodos e protocolos para a prática da ciência comunitária que já foram testados em mais de 150 comunidades nos Estados Unidos e em outros países.
Como a maioria dos cientistas não foi treinada para trabalhar com comunidades e não sabe por onde começar, essa colaboração e a produção coletiva de conhecimento são muito desafiadoras. Por isso, o TEX, a COMR e outros grupos de ciência comunitária estão desenvolvendo novos métodos para enfrentar esses problemas. O método TEX, por exemplo, prevê e administra os conflitos que possam surgir nesses esforços colaborativos. As parcerias cientistas-comunidade aprendem como criar expectativas realistas, corrigir erros, enfrentar obstáculos e fracassos, prever problemas e discordar sem animosidade. O TEX ajuda a gerenciar a evolução dessas parcerias ao longo do tempo, estimulando a confiança mútua e a colaboração na solução de problemas e desenvolvendo uma cultura de compartilhamento de metas, o que ajuda a manter um relacionamento sólido.
Embora o método TEX tenha sido criado especificamente para aplicações em geociências, suas quatro fases — escopo, seleção, solução e compartilhamento — podem ser aplicadas a outras investigações de interesse da comunidade. A seguir, cada fase é apresentada isoladamente:
Escopo. Os parâmetros da investigação criam as condições para o sucesso do projeto. Para aplicar o TEX é preciso que uma comunidade requisite a assistência de um cientista. Pelo menos dois líderes comunitários precisam se comprometer a trabalhar com o cientista durante um período de seis a 18 meses e realizar um diagnóstico prévio para garantir que o projeto é necessário e atende às prioridades da comunidade. Como os problemas ambientais são complexos e as soluções raramente são simples, as comunidades podem ter dúvida quanto às suas necessidades ou podem ter várias prioridades. Elas podem não dispor de recursos financeiros e podem não querer necessariamente fechar uma empresa infratora se, por exemplo, os empregos estiverem em risco. Para aplicar o TEX, os líderes comunitários precisam preencher um questionário de identificação do projeto, que os orienta sobre essas questões e os ajuda a identificar as metas prioritárias da investigação científica.
Os funcionários do TEX e um grande número de auxiliares voluntários — alguns cientistas, outros não — atuam como gestores do projeto. Eles orientam os cientistas e a comunidade sobre como criar e manter uma parceria produtiva e permanecer concentrado no projeto à medida que ele avança. Antes de determinar o escopo de um projeto, o gestor visita e conversa com a comunidade para entender melhor suas necessidades e como a comunidade funciona e se organiza. O gestor do projeto prepara então uma versão preliminar do projeto.
Nessa fase, o gestor e a comunidade redigem as regras básicas para o comportamento e a interação entre as equipes e definem os papéis e as responsabilidades de todos os participantes. Esses documentos tornam-se pontos de referência quando surgem problemas. É importante limitar o escopo da investigação para proporções administráveis porque isso ajuda a estabelecer expectativas realistas. O TEX encoraja as comunidades a começar pequeno, evitar exagerar nas promessas e estabelecer parâmetros de referência para avaliar o andamento do projeto.
Seleção. Uma vez determinado o escopo, o gestor do projeto procura nas bases de dados da AGU um cientista e a instituição em que trabalha. Dependendo do escopo, mais de um cientista pode trabalhar no projeto. Os gestores do projeto avaliam os selecionados, verificam suas referências e apresentam uma lista de candidatos à comunidade, que escolhe aquele com quem quer trabalhar. Depois que a comunidade e o cientista concordam sobre a escolha, o cientista é designado, as duas partes detalham o projeto e decidem como os dados serão utilizados e compartilhados. O TEX exige que tanto os líderes comunitários como os cientistas assinem um documento à parte ressaltando os riscos associados à ciência comunitária e uma declaração de integridade científica.
O cientista e os líderes comunitários se reúnem semanalmente, muitas vezes remotamente. Os gestores que no início estavam mais envolvidos no projeto reduzem aos poucos sua participação e deixam completamente o projeto assim que a parceria cientista-comunidade se estabiliza.
Mesmo que a seleção garanta um forte alinhamento entre o cientista e a comunidade, discordâncias e conflitos podem surgir. O método TEX não procura eliminar conflitos, mas prevê que eles possam acontecer. O gestor do projeto propõe então, que a equipe imagine os piores cenários possíveis e apresente soluções utilizando técnicas de resolução de problemas. O TEX incentiva as equipes cientista-comunidade a ensaiarem algumas possíveis soluções. Às vezes, o gestor precisa recorrer ao plano do projeto para garantir que as soluções sejam compatíveis com o seu escopo. Se necessário e se todos estiverem de acordo, o escopo do projeto pode ser alterado.
Solução. Esta fase descreve a investigação e os resultados do projeto TEX. Quando ele funciona satisfatoriamente, os resultados ajudam as comunidades a entender melhor seus problemas, e as evidências coletadas permitem delinear um caminho para as soluções. Logo no início, as comunidades precisam estar cientes de que os resultados da pesquisa podem não resolver todos os problemas, não confirmar a tese ou não atender às necessidades originais da comunidade. Nesse caso, a flexibilidade e a disposição para mudar o curso do projeto podem transformar o que alguns entendem como fracasso em desenvolvimento ágil — novas ideias e conhecimento que ajudam o cientista e a comunidade a deslocar seus esforços para direções mais promissoras.
Os resultados do projeto também podem suscitar novas questões. Em alguns casos, os projetos TEX foram relançados como novos projetos de follow-up quando as comunidades decidiram continuar explorando problemas fora do escopo original do projeto.
Compartilhamento. Na última fase, a comunidade divulga os resultados da pesquisa aos interessados — toda a comunidade, legisladores, e ativistas civis — e apresenta os principais tópicos. É bom frisar que transformar a pesquisa científica em ação cívica geralmente é o estágio mais difícil do projeto.
A seguir, são apresentados dois estudos de caso recentes de projetos TEX que ilustram a aplicação do método. Eles mostram como as investigações científicas são moldadas pelas prioridades da comunidade e projetadas para fornecer informações úteis para a inovação e ação cívica.
Aliança da Avenida Clairborne
Em março de 2021, o plano de estruturação do presidente Joe Biden citou o corredor da rodovia I-10, também conhecido como Claiborne Expressway, para exemplificar o modo como as desigualdades históricas afetavam o sistema viário interestadual que prejudicava as comunidades negras. Em New Orleans, a construção da via expressa devastou a Avenida Claiborne, que antes era a arborizada e próspera avenida principal do comércio local e centro cultural de vários bairros negros históricos da cidade, destruindo centenas de carvalhos frondosos e dando início a uma era de desinvestimento.
Em 2018, a Claiborne Avenue Alliance (CAA — Aliança da Avenida Claiborne), uma associação de moradores locais e grupos comerciais que defendiam a demolição da via expressa, procurou os pesquisadores para ajudá-los a avaliar e detalhar seis diferentes cenários que a cidade propunha para revitalizar o corredor da Avenida Claiborne. Alguns cenários propunham preservar a via expressa, outros, demoli-la. A CAA sabia que precisava de dados, mas não tinha ideia de como obtê-los — até que alguém mencionou o TEX em uma conversa com o líder comunitário.
No mesmo ano, o TEX selecionou Adrienne Katner, professora da Faculdade de Saúde Pública da Louisiana State University (LSU), como a pessoa ideal para ajudar a comunidade. Ela já havia trabalhado nos National Institutes of Health (NIH — Institutos Nacionais de Saúde) e na Secretaria de Saúde Pública da Louisiana, onde dirigiu o programa de monitoramento da saúde pública ambiental do Estado.
A CAA e Adrienne Katner concordaram que não seria possível avaliar o cenário de reurbanização da cidade sem antes realizar um estudo preliminar para obter um quadro mais detalhado das verdadeiras condições do corredor I-10. Katner e os líderes comunitários decidiram medir os impactos ambientais e sanitários da via expressa nos bairros adjacentes. Katner e um grupo de seus alunos da LSU mediram o material particulado e os níveis de ruído no corredor, estudaram as informações ambientais e sanitárias de bases de dados federais e estaduais e fizeram uma revisão da literatura científica sobre os níveis de exposição a vários poluentes perigosos. A equipe também comparou as estatísticas sobre a saúde de moradores nas proximidades da via expressa Claiborne com dados estaduais e federais.
Na fase de solução, a gestora do projeto TEX, Sarah Wilkins se comunicava mensalmente com a equipe da LSU e com líderes da CAA, intermediava discussões e prestava assistência, quando necessário, para manter o projeto no rumo certo. O relatório final da equipe da LSU apresentou uma avaliação do impacto dos efeitos cumulativos do tráfego do corredor I-10 na saúde e no bem-estar dos moradores. O relatório mostrou que, ao longo do corredor, os níveis de exposição a poluentes e as taxas de incidência de doenças como asma, autismo, problemas cardíacos e pulmonares, câncer e complicações na gravidez excediam os níveis municipais, estaduais e nacionais. A equipe da LSU também projetou os prováveis impactos na saúde das medidas de revitalização da área propostas pela cidade e concluiu que algumas delas poderiam até aumentar os danos à saúde da população. Todas as pesquisas foram realizadas por cientistas, alunos e líderes comunitários que dedicaram voluntariamente seu tempo — sem receber nenhuma remuneração. Todas as partes se mostraram satisfeitas com a parceria e atribuíram uma parcela de seu sucesso à comunicação clara e aberta que mantiveram.
Na fase de compartilhamento do projeto, em 2019, a CAA realizou fóruns comunitários para apresentar os resultados do relatório. A organização sem fins lucrativos Public Lab, parceira do TEX, ajudou alunos do quinto ano do ensino fundamental de uma escola do bairro Tremé, em New Orleans, a lançar balões meteorológicos para registrar a presença e o deslocamento dos poluentes. Os alunos publicaram um livro infantil descrevendo seus esforços para fazer o monitoramento e suas ideias sobre o corredor, o que despertou grande interesse da mídia. Uma professora da escola criou um plano de aula para explicar aos alunos o que era ciência cidadã, monitoramento do ar e engajamento cívico.
A cofundadora da CAA, Amy Stelly, explicou que a parte mais difícil dessa fase foi fazer com que os decisores públicos se interessassem pelo estudo. Passou mais de um ano até o conselho municipal de New Orleans concordar em discutir os resultados do relatório. Stelly também enviou o documento a deputados e senadores da Louisiana, apresentou-o em conferências e aproveitou os resultados para fortalecer o caso de New Orleans no plano de infraestrutura do governo federal. Enquanto vários líderes locais continuavam relutantes em desfazer-se da via expressa, o senador Troy Carter, membro da Comissão de Transporte e Infraestrutura do Congresso, apoiou sua remoção.
Apesar das dificuldades que ainda permaneciam, Stelly afirmou que a pesquisa do TEX forneceu à comunidade informações importantes e um novo critério para medir os resultados esperados. Os benefícios se estenderam além dos limites da cidade de New Orleans. A partir do momento em que a Claiborne Expressway ganhou destaque no plano de infraestrutura de Biden, defensores comunitários de outras cidades compartilharam o relatório da LSU com as secretarias de transporte de seus municípios para demonstrar os perigos que rodovias urbanas podem representar à saúde pública. Como a CAA, os que advogavam a demolição da via expressa não perceberam o quanto a avaliação do impacto na saúde poderia fortalecer suas causas. Eles haviam focado no tráfego, no desinvestimento e em outros fatores sociais e econômicos, mas não pensaram em incluir os dados de saúde pública em seu kit de ferramentas.
A preocupação dos moradores
O segundo estudo de caso aconteceu no oeste do vale do Rio Ohio. O condado de Belmont é a área do Estado de Ohio com maior quantidade de perfurações para facilitar o acesso a petróleo e gás natural, com mais de 600 operações de fraturamento hidráulico. Os residentes se queixaram várias vezes às autoridades ambientais e de saúde federais e estaduais sobre as emissões tóxicas — até ligaram para o 911 relatando emergências de saúde —, mas em vão. Grupos comunitários também descobriram que havia planos para construir no condado uma enorme usina de craqueamento de etano para produzir plásticos, o que geraria novas emissões prejudiciais.
Nem a EPA de Ohio (OEPA) nem a EPA federal monitora o impacto cumulativo das emissões de várias indústrias petroquímicas em Belmont e nos arredores. Os poucos monitores da qualidade do ar instalados pela EPA na região calculam, intencionalmente, a média das emissões sobre uma grande área — uma prática que pode não incluir, na média, concentrações maiores e hot spots em que a qualidade do ar é muito pior. Os poucos monitores instalados não coletam dados sobre o total de compostos orgânicos voláteis (TVOC, na sigla em inglês) das operações de fraturamento nem monitoram eficientemente emissões acidentais de larga escala e vazamentos em estações de compressão e em outras instalações. Como acontece em muitos Estados, a OEPA costuma confiar nos dados que as indústrias apresentam sobre vazamentos e grandes acidentes, e muitas dessas ocorrências são ignoradas ou omitidas.
O grupo comunitário Concerned Ohio River Residents (CORR — Moradores Preocupados do Rio Ohio) procurou corrigir essas falhas das agências reguladoras. O CORR ouviu falar do TEX em 2018, quando foi convidado a participar de uma sessão de informação para grupos comunitários, em Pittsburgh. Em 2019, o CORR entrou em contato como o TEX em busca de um cientista que pudesse ajudá-lo a analisar a qualidade do ar do município e criar um sistema básico de monitoramento do ar.
Mais tarde, ainda em 2019, Garima Raheja, especialista em ciências atmosféricas e doutoranda da Columbia University, juntou-se ao projeto como membro da ciência comunitária do TEX. Elisabeth Freese, doutoranda em química da atmosfera do Massachusetts Institute of Technology (MIT), foi selecionada como a cientista do TEX. As duas trabalharam remotamente com o CORR durante toda a pandemia de Covid-19.
A equipe do projeto decidiu analisar as discrepâncias que havia identificado no monitoramento da qualidade do ar no Vale do Ohio tanto nos dados da EPA quanto nos da OEPA. Logo depois, Raheja e Freese descobriram as emissões acumuladas no condado ao fazer o download e analisar cada licença que a OEPA havia concedido para calcular as emissões totais.
O CORR não dispunha de equipamentos, treinamento ou subsídios para coletar e analisar os dados de poluentes atmosféricos, mas o grupo conseguiu adquirir monitores de baixo custo graças a uma verba da Community Foundation for the Alleghenies (Fundação Comunitária dos Alleghenies). Um cientista local ajudou a instalar os monitores nas casas dos moradores para registrar as concentrações de material articulado fino. O Create Lab, da Carnegie Mellon University, que desenvolvia novos monitores de baixo custo para medir TVOC, também instalou vários desses modelos experimentais no Vale do Ohio.
Os cientistas do TEX cruzaram os dados dos monitores recém-instalados com dados meteorológicos e outros conjuntos de dados para criar modelos computacionais que forneceram um quadro mais detalhado sobre a origem e o movimento das emissões no vale. Os dados mostraram que as emissões provinham de uma estação de compressão e de tubulações subterrâneas. Os monitores também registraram picos significativos nos níveis de TVOC em várias ocasiões. Atualmente, Freese está desenvolvendo outros modelos computacionais para identificar a localização desses picos e também criando um modelo para descobrir como seriam as emissões TVOC de uma futura usina de craqueamento e como essas emissões poderiam afetar ainda mais a qualidade do ar.
Na fase de compartilhamento, o CORR criou dois webinários de educação comunitária para mostrar o nível de poluição do ar no condado de Belmont. O CORR também começou a desenvolver a segunda fase do projeto, para ampliar o monitoramento do ar e verificar se a região atende às regulamentações sobre poluição do ar e se realiza a interpretação visual das emissões com o Create Lab. Cientistas do CORR e do TEX esperam redigir um white paper sobre suas descobertas, solicitar auxílio à EPA dos EUA e compartilhar seus métodos e boas práticas com outras redes de ativistas da região.
As lições aprendidas
O que estes estudos de caso revelam sobre as ações da ciência comunitária nessas situações e como elas afetam a vida das comunidades? Que lições eles ensinam aos cientistas, ativistas, legisladores e financiadores que queiram participar da ciência comunitária ou apoiá-la? Destes estudos de caso resultaram seis grandes conclusões.
A falta de ação tem consequências. Se a ciência desenvolvida pelo governo continuar a ignorar as evidências que as comunidades relatam, a desconfiança da sociedade na ciência liderada pelo governo aumentará.
Comunidades e cientistas podem trabalhar juntos de forma produtiva. Apesar das diferenças de prioridades, cultura e níveis de conhecimento, os cientistas e as comunidades podem colaborar para produzir ciência séria para dar suporte às tomadas de decisão cívica.
As comunidades estão dispostas a fazer ciência, incluindo estudos básicos e a avaliação dos impactos na saúde, desde que a ciência esteja relacionada com suas necessidades e contribua para a ação cívica.
A maior barreira para que as comunidades utilizem a ciência é a falta de recursos financeiros, de acesso a equipamentos científicos e de expertise.
Os estudos de caso demonstram que os cientistas podem até discordar dos interesses das comunidades, mas sem comprometer a integridade científica. Quando cientistas e comunidades chegam a um acordo sobre o que precisa ser estudado, os cientistas são capazes de realizar as investigações de acordo com os padrões profissionais mais elevados.
Ao refletir e relacionar-se com as principais metas da comunidade, a ciência reforça a posição da comunidade para influenciar os tomadores de decisão, os quais podem aprovar políticas que levem a resultados positivos. A ciência comunitária também cria muitas oportunidades para interações produtivas entre os cientistas e a comunidade, reforça as relações entre os cientistas e a população e promove maior confiança nos métodos científicos.
A ciência comunitária impulsiona as descobertas científicas. Quando confrontados com problemas reais e com o feedback da comunidade, os cientistas aprendem a fazer pesquisas mais adequadas às necessidades da comunidade e às aplicações práticas, envolvendo-se em soluções mais criativas e multidisciplinares.
O futuro da ciência comunitária
Esse rico potencial para a ação cívica colaborativa começou como um mobilizador da ciência comunitária e está sendo desenvolvido com o auxílio de uma série de inovações tecnológicas que produzem ferramentas de triagem, mapeamento e sensoriamento disponíveis publicamente, as quais permitem que as comunidades coletem dados quarteirão por quarteirão. Tais inovações libertam as comunidades das restrições impostas pelos limitados programas de monitoramento do governo e revolucionam os métodos de coleta de dados para verificação da conformidade e do cumprimento da lei.
Os Estados da Califórnia, Michigan, Carolina do Norte, Maryland e várias prefeituras de todos os Estados Unidos estão desenvolvendo ferramentas de triagem e mapeamento de justiça ambiental que reúnem bases de dados geradas pelos governos e pelas comunidades para identificar os bairros mais atingidos e compará-los com as vizinhanças. A administração Biden está desenvolvendo uma nova ferramenta de rastreamento da justiça econômica e climática que pode utilizar as informações geradas pelas comunidades e coletadas por ferramentas estaduais ou locais para que os esforços dos órgãos federais sejam mais bem orientados quando precisarem identificar e investir nas comunidades mais atingidas.
Os cientistas que desenvolvem essas ferramentas esperam que a ciência comunitária se incorpore tão profundamente na estrutura social que se torne difícil desalojá-la no futuro — não importa que partido esteja no poder tenha maioria no Congresso.
Os defensores querem que a ciência comunitária desempenhe um papel mais importante nos processos de licenciamento, zoneamento, compliance e controle. Em 2020, a International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE — Rede Internacional para Aplicação e Cumprimento da Norma Ambiental) — uma rede global informal de profissionais do meio ambiente e de fiscalização —, analisou os passos que os órgãos governamentais precisam dar para incorporar a ciência comunitária em suas operações, incluindo a atualização de leis e procedimentos e a criação de padrões para a coleta de dados, a fim de que eles possam ser utilizados de forma mais ampla na elaboração de políticas públicas e em processos judiciais.
Alguns Estados já publicaram padrões para o monitoramento da qualidade da água. Uma nova lei da Califórnia — parte de uma recente estratégia do Estado para mitigar a poluição do ar nas comunidades mais atingidas — fornece recursos para que comunidades menos favorecidas possam medir a poluição do ar local, utilizando sensores de baixo custo, e transformar os resultados obtidos em planos de ação.
Os acadêmicos querem que a ciência comunitária seja incluída nas universidades como uma disciplina curricular que inclua o estudo de modelos teóricos e práticos sobre como essa ciência possa funcionar no âmbito municipal e regional, com estágios supervisionados, processos de certificação, planos de carreira, e fórmulas de financiamento que levem em conta suas prioridades. A AGU e outras quatro associações científicas estão se unindo à editora acadêmica Wiley para lançar uma revista, revisada por pares, e um novo portal totalmente dedicados à ciência comunitária. Alguns acadêmicos defendem a criação de uma nova National Applied Science Foundation (Fundação Nacional de Ciência Aplicada) para criar uma ponte entre a ciência básica e a ciência aplicada, que poderia atuar em conjunto com a National Science Foundation (Fundação Nacional da Ciência) e os National Institutes of Health (Institutos Nacionais de Saúde) que atualmente são os principais financiadores federais da pesquisa científica.
A falta de ação tem consequências. Se a ciência desenvolvida pelo governo continuar a ignorar ou entrar em conflito com as evidências científicas que as comunidades relatam em suas investigações, a desconfiança da sociedade na ciência liderada pelo governo aumentará. Se a ciência desenvolvida pela academia continuar desconectada das necessidades da comunidade, a distância entre a sociedade e os cientistas será maior, e também crescerá a relutância da população em custear a pesquisa.
Uma nova geração de cientistas e ativistas comunitários está comprometida em fazer ciência de forma mais democrática, com mentalidade cívica, igualitária e baseada na justiça. Talvez esta seja a resposta necessária para convencer o público cético que está sempre perguntando: “Para quem e para que serve a ciência?”.
Leia também: A ciência do que desperta a empatia