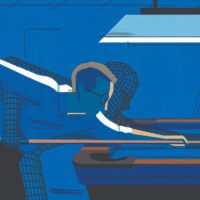A sociedade brasileira passa por mudanças significativas nos hábitos de consumo de mídia. À medida que a digitalização avança, a televisão aberta permanece firme como canal de grande alcance, convivendo com novas plataformas digitais. Para além da aparente diversidade, entretanto, profundas desigualdades ainda influenciam quem acessa o quê – e como. Dados relevantes sobre esse cenário estão em Futura: pesquisa de imagem, hábitos de mídia e preferências de consumo, pesquisa de opinião conduzida pela Quaest em 2025 a partir de uma amostra estatística com cobertura em todo o país.
O consumo de mídia no Brasil é multiplataforma, com coexistência de mídias tradicionais e digitais. Embora 83% da população acesse meios digitais, metade dos brasileiros mantém a TV aberta como sua principal referência. Plataformas como YouTube (49%) e redes sociais (58%) disputam espaço, e 41% da população acessa serviços de streaming com regularidade. A preferência dos jovens pelo digital é clara (73% redes sociais, 59% YouTube). Entre os mais velhos, 72% priorizam a TV aberta, sendo que apenas 31% deles utilizam redes sociais.
Renda e escolaridade aparecem como variáveis significativas na determinação de padrões de consumo de mídia. Pessoas que ganham até três salários mínimos e cursaram apenas o ensino fundamental tendem a consumir mais televisão, com acesso mais restrito a conteúdos digitais. O retrato é outro entre aqueles com renda superior a sete salários mínimos e escolaridade maior, cujo acesso e consumo de conteúdo digital é amplo e diversificado.

O acesso a conteúdos digitais cresce proporcionalmente com a escolaridade: entre pessoas com ensino superior, 70% acessam redes sociais, 63% usam serviços de streaming e 60% consomem vídeos no YouTube. Já quem tem apenas o ensino fundamental vive outro cenário: somente 22% utilizam serviços de streaming e 35% acessam o YouTube.
A pesquisa evidencia que a população brasileira prefere consumir mídia de entretenimento (48%), como novelas, séries e filmes a jornais e telejornais (43%) e esportes (29%). Conteúdos que poderiam contribuir mais com a educação cidadã, como documentários (12%) e programas informativos (9%), têm menor adesão, evidenciando mais uma vez os marcadores de renda e escolaridade.
Os brasileiros preferem vídeos curtos. Cursos online e videoaulas têm mais aceitação entre pessoas com maior escolaridade, indicando abertura para conteúdo formativo adaptado à linguagem atual e rotina fragmentada. Dos 86% dos brasileiros que já consumiram conteúdo educativo, só 36% o fizeram diariamente. Públicos mais engajados nessa modalidade de conteúdo incluem graduados, empregados formais e responsáveis por crianças, características que impactam o consumo de conteúdo digital voltado a aprendizagem.
O panorama delineado pela pesquisa Quaest revela um Brasil no qual velhas e novas mídias coexistem, mas sob clivagens de escolaridade, faixa etária e renda. Nesse cenário híbrido, o desafio contemporâneo é criar estratégias de convergência, inclusão digital e mobilização cultural que desafiem as desigualdades estruturais no acesso e nos usos da mídia.
Novas competências para ler o mundo
A atual transformação digital exige uma nova perspectiva sobre alfabetização e letramento. No Brasil, o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), principal instrumento de avaliação das habilidades de leitura, escrita e compreensão de textos entre jovens e adultos, incluiu, pela primeira vez, o letramento digital em sua edição de 2024.
O conceito de alfabetismo funcional foi ampliado para abraçar textos multimodais, interfaces tecnológicas e práticas sociais moldadas por algoritmos – uma adaptação fundamental para entender o que significa ter fluência alfabética no mundo contemporâneo. Além disso, o Inaf 2024 implementou a sobrerrepresentação de jovens entre 15 e 29 anos na amostra nacional, o que possibilita uma análise mais detalhada dos níveis de alfabetismo digital nessa faixa etária e reforça a importância estratégica desse componente no combate às desigualdades educacionais.
Apesar da comum associação da juventude ao domínio intuitivo das tecnologias digitais, os dados revelam que o acesso e a frequência de uso da internet estão longe de assegurar o desenvolvimento de habilidades operacionais e críticas no ambiente digital. O simples uso de dispositivos ou plataformas não dispensa o papel essencial da mediação pedagógica para transformar interações automáticas em práticas conscientes, reflexivas e emancipatórias.
Os dados preliminares da pesquisa indicam que as desigualdades estruturais que marcam o letramento tradicional persistem no contexto digital. Escolaridade, renda, localização geográfica e raça/cor seguem influenciando o desempenho nas tarefas avaliativas digitais, corroborando achados do estudo da Quaest. Embora mais brasileiros tenham hoje dispositivos móveis nas mãos, o uso qualificado da tecnologia – que envolve análise crítica, domínio de expressão pessoal e participação cívica – ainda é um privilégio de quem tem maior nível de instrução e renda. O estudo revela que a escolaridade formal continua sendo o principal fator preditivo da proficiência digital, embora essa relação não seja direta.
Integrar o letramento digital às estratégias de alfabetização não é mais apenas desejável: tornou-se uma urgência, sobretudo no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso também vale para a formação continuada de educadores, que precisam estar capacitados para mediar, de forma crítica, os processos de aprendizagem digital nas escolas e em espaços não formais.
Os dados ainda reforçam a importância de ações intersetoriais que promovam acesso com qualidade, conectividade significativa, curadoria de conteúdos e criação de ambientes seguros e estimulantes para o exercício da cidadania digital.
As juventudes brasileiras, com sua capacidade de adaptação e criatividade, representam um campo fértil para essas ações – desde que as políticas sejam capazes de reconhecer sua diversidade e garantir condições justas para que todos possam se desenvolver.
Um cenário em descompasso
Quando guiada por valores éticos, a integração de mídia, tecnologia e inteligência artificial (IA) na educação tem potencial para ser uma força impulsionadora de inclusão, adaptação de aprendizagem e fortalecimento de competências essenciais para o século 21. No entanto, sua implementação em contextos marcados por desigualdades estruturais no acesso à tecnologia e à mídia – como é o caso do Brasil – requer atenção às condições reais de acesso, habilidades e infraestrutura.
Ao confrontar as diretrizes internacionais sobre IA na educação com os dados do Inaf 2024 e os da pesquisa Quaest sobre o consumo de mídia e o letramento digital, observa-se um descompasso entre aspirações normativas globais e o cenário empírico nacional.
Organismos como a Unesco e o UNICEF defendem o princípio da inclusão e equidade no acesso às tecnologias de IA para garantir que nenhum estudante fique para trás, seja por razões sociais, econômicas, étnico-raciais ou geográficas. No entanto, a realidade brasileira aferida nos dados do Inaf revela que a exclusão digital é mais uma camada da exclusão educacional, especialmente entre jovens de baixa renda, moradores de regiões periféricas e pessoas com menor escolaridade. A pesquisa Quaest reforça esse diagnóstico ao demonstrar que, embora o acesso à internet e a dispositivos digitais tenha se expandido, as competências de uso crítico e produtivo da tecnologia estão concentradas nos segmentos mais favorecidos da população. O uso da tecnologia, nesse contexto, é mais passivo e reprodutivo do que ativo e criativo – o que compromete os potenciais de apropriação da IA na aprendizagem.
A educação midiática e o letramento digital devem ser encarados como direito essencial à formação de cidadãos. É obrigatório preparar crianças e jovens não só para operar a IA, mas para entendê-la criticamente e, se necessário, recodificá-la
As recomendações internacionais incluem o desenvolvimento de competências digitais e em IA desde a educação básica, permitindo que estudantes compreendam não apenas como utilizar tecnologias, mas também como elas funcionam e afetam suas vidas. Contudo, o Inaf 2024 evidencia que, para boa parte da população brasileira, incluindo muitos jovens, o letramento digital ainda está em estágio inicial. A avaliação do letramento digital na matriz de habilidades do Inaf revela que tarefas aparentemente simples, como reconhecer ícones, navegar em interfaces ou localizar informações em plataformas digitais, continuam sendo barreiras cognitivas significativas para milhões de brasileiros. A alfabetização digital crítica, necessária para o uso ético e estratégico da IA, está longe de ser uma realidade consolidada no país. Programas de educação formal ainda não integram de modo consistente essas competências ao currículo, e há forte desigualdade no acesso a oportunidades educativas que favoreçam o pensamento crítico e a agência digital – especialmente entre as juventudes mais excluídas.
Internacionalmente, defende-se a necessidade de formar professores para utilizar e avaliar de modo crítico ferramentas de IA. No Brasil, porém, como mostram os dados do Inaf e da Quaest, o desafio começa antes: professores ainda precisam de formação básica em letramento digital, para adquirir domínio técnico, e desenvolver as dimensões ética e pedagógica na apropriação de tecnologia em processos educacionais. A ausência de formação continuada em cultura digital compromete a mediação da aprendizagem com uso de IA de forma responsável, colaborativa e alinhada aos direitos humanos. Sem preparo pedagógico, a inteligência artificial, em vez de reduzir as desigualdades educacionais, pode ampliar desigualdades já presentes na sala de aula.
A avaliação ética dos algoritmos na educação, com atenção a vieses, discriminações e riscos à privacidade, é não só uma recomendação, mas um imperativo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) brasileira reforça esse compromisso. No entanto, o cruzamento dos dados nacionais revela um déficit de cultura institucional e cidadã sobre o tema. A pesquisa Quaest mostra que a maioria da população ainda desconhece aspectos básicos da arquitetura digital que consome, e o Inaf aponta que avaliar criticamente fontes e intenções em ambientes digitais é uma das habilidades mais frágeis entre os brasileiros. Esse cenário limita a construção de uma cultura de dados responsável e participativa, sobretudo em ambientes escolares, onde deveria começar.
Uso massivo e pouco crítico da tecnologia
Um outro estudo estruturante nessa reflexão, a pesquisa TIC Kids Online, revela que 93% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 e 17 anos estão conectados à internet, quase sempre pelo celular, e mergulhados em plataformas como YouTube, TikTok e WhatsApp. Apesar do uso diário e intenso da tecnologia, a TIC Kids Online aponta para dificuldades significativas na compreensão crítica de mensagens, na identificação de fontes confiáveis e na interpretação de ambientes digitais, resultado semelhante ao encontrado pelo Inaf 2024. Apenas 37% das crianças e adolescentes afirmam saber como checar a veracidade de informações online, e mais da metade nunca recebeu instrução sobre como navegar com segurança. O retrato é claro: temos uma nova geração imersa na cultura digital, mas com deficiências consideráveis de letramento funcional em contextos digitais.
O uso de inteligência artificial já é parte do cotidiano de crianças, adolescentes e jovens brasileiros – ainda que, muitas vezes, de forma invisível e não mediada. Sistemas de recomendação (em vídeos, músicas, redes sociais), filtros de imagem, jogos com respostas automatizadas e reconhecimento de voz fazem parte da rotina desse público, como mostram tanto a TIC Kids Online como a análise crítica dos ambientes digitais feita no Inaf. O problema é que poucos têm consciência de que estão interagindo com IA. Crianças e adolescentes não sabem como seus dados são utilizados, nem compreendem os critérios que definem quais conteúdos aparecem em suas telas.
Todos esses estudos deixam claro que as desigualdades históricas também se manifestam e se atualizam nos ambientes digitais. Crianças e jovens de famílias com menos renda têm menos acesso a múltiplos dispositivos, menor apoio institucional ou familiar na mediação do uso da tecnologia e estão mais expostos a riscos digitais – como aponta a TIC Kids Online. São desigualdades que não apenas persistem, mas se reconfiguram, perpetuando injustiças.
Juventudes, letramento digital e IA
A análise dos documentos revela uma situação paradoxal para a população brasileira, sobretudo entre os jovens: embora conectados, nem sempre possuem letramento digital adequado para navegar esse mundo de forma crítica e consciente. Vivem imersos em algoritmos, mas desconhecem como eles funcionam e estão presentes em suas vidas.
Para construir uma cultura digital equitativa, inclusiva e emancipadora, é preciso ir além da simples conectividade. É indispensável investir em educação para a tecnologia, assegurar transparência e ética no uso da IA, além de estimular a participação ativa e consciente dos jovens na moldagem do futuro digital.
Uma mediação educacional de qualidade e a regulação alinhada aos direitos humanos são elementos essenciais nessa jornada. Dada a crescente influência da inteligência artificial nos âmbitos educacional, social e cultural, entender o panorama atual das habilidades digitais da população jovem é fundamental para a formulação de políticas públicas que não só ampliem o acesso, mas também assegurem justiça digital e inclusão com senso crítico. A partir da reflexão, seguem quatro pontos que exigem atenção e esforço de todos.
1. Letramento digital funcional, mas não crítico | Apesar da massificação do acesso à internet – com mais de 90% das crianças e adolescentes conectados, segundo a TIC Kids Online –, os níveis de compreensão crítica sobre conteúdos digitais são baixos. O Inaf mostra que a maioria da população brasileira tem dificuldade em avaliar a confiabilidade de informações online. Isso revela um letramento digital limitado à operação das ferramentas, sem aprofundamento crítico.
2. A IA está presente, mas é invisível | Os jovens interagem no dia a dia com sistemas baseados em IA – como algoritmos de recomendação em redes sociais, chatbots e assistentes de voz –, mas não os reconhecem como tais. Essa ausência de consciência algorítmica dificulta qualquer forma de participação ativa ou crítica, contrariando as recomendações e tendências internacionais, que propõem a alfabetização em IA desde a educação básica.
3. As desigualdades se reconfiguram e se reproduzem | As disparidades históricas de acesso à educação, renda e infraestrutura tecnológica acabam por influenciar o letramento digital. Crianças de famílias mais pobres acessam a internet quase exclusivamente por celular, geralmente sem nenhuma forma de mediação e com maior exposição a riscos digitais. Isso compromete o aprendizado e o exercício da cidadania digital.
4. Formação docente e mediação educacional são insuficientes |
A ausência de programas estruturados de formação continuada em cultura digital para educadores limita a capacidade das escolas de atuarem como mediadoras seguras e formativas no uso da tecnologia. A falta de preparo docente para lidar com IA nas práticas pedagógicas representa um risco de aprofundamento das desigualdades.
O cotidiano de crianças e adolescentes é cada vez mais moldado por algoritmos, presentes em jogos, redes sociais e plataformas de ensino. A inteligência artificial, antes uma promessa, é hoje uma realidade para todas as pessoas. No entanto, debate-se pouco sobre a educação das novas gerações para compreender, utilizar e questionar essas tecnologias.
Para que o futuro digital não perpetue as desigualdades atuais, a educação midiática e o letramento digital e algorítmico devem ser encarados como um direito essencial à formação de cidadãos democráticos. É obrigatório preparar crianças e jovens não só para operar a inteligência artificial, mas para entendê-la criticamente e, se necessário, recodificá-la.
Fontes consultadas
Cetic.br. TIC Kids Online Brasil 2023: pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2024.
Conhecimento Social. Legado e futuro do alfabetismo funcional. São Paulo: Conhecimento Social; Ação Educativa, 2024.
Quaest Pesquisa e Consultoria. Futura: pesquisa de imagem, hábitos de mídia e preferências de consumo. Relatório de Pesquisa. Belo Horizonte; Rio de Janeiro: Quaest; Fundação Roberto Marinho, 2025.
Unesco. AI and education: guidance for policy-makers. Paris: Unesco, 2021.
Unesco. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris: Unesco, 2021.
UNICEF. Policy guidance on AI for children. Nova York: UNICEF, 2021.
União Europeia. DigComp 2.2: the digital competence framework for citizens. Bruxelas: Joint Research Centre, 2022