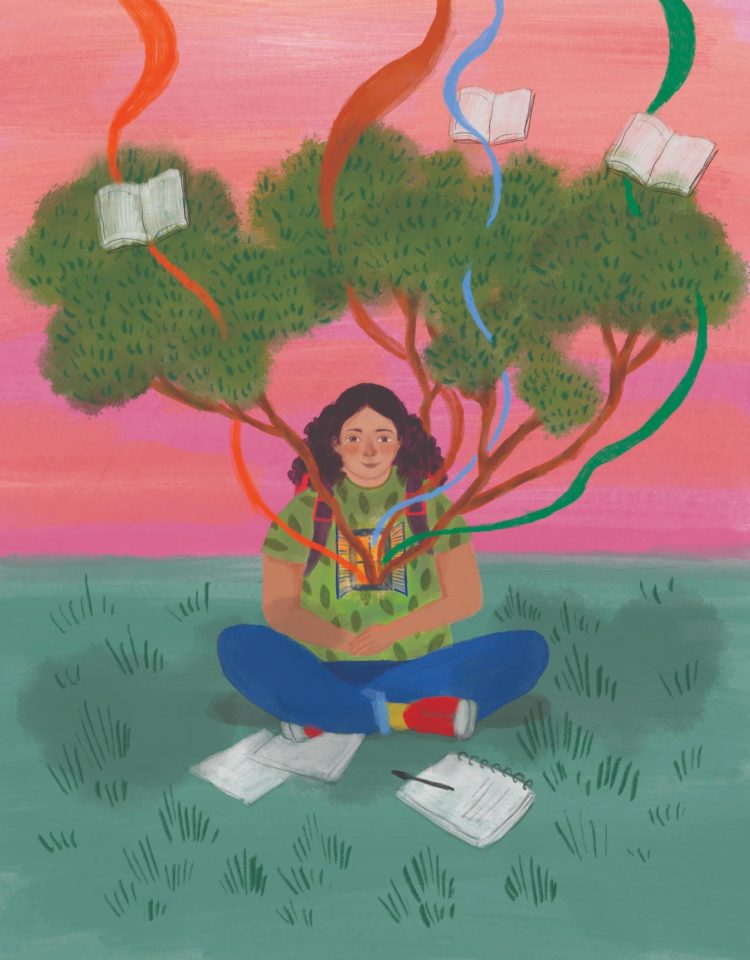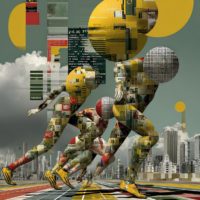Em foco
- Um em cada nove jovens no mundo vive com um transtorno mental
- Mais de metade dos distúrbios começam antes dos 15 anos
- A juventude é um período de alta vulnerabilidade, mas também uma janela de oportunidade
- A pobreza na infância eleva o risco de transtornos mentais
- Um ambiente escolar acolhedor e maior letramento de saúde mental dos educadores pode transformar a saúde mental de estudantes
Os transtornos mentais figuram entre os maiores desafios de saúde pública global, especialmente pelos efeitos que produzem na infância, adolescência e início da idade adulta. Ao longo da vida, mais de um quarto da população mundial enfrentará algum tipo de transtorno mental, sendo que cerca de 50% dos casos começam antes mesmo dos 15 anos e 75% até os 24 anos.1 Esses dados reforçam que a juventude é um período de alta vulnerabilidade para transtornos mentais, mas também uma janela crucial de oportunidade para intervenções que podem alterar trajetórias de risco e reduzir impactos futuros.
Embora não sejam fenômenos novos, os transtornos mentais na infância e adolescência são muitas vezes invisibilizados por sistemas de educação e saúde despreparados para reconhecê-los precocemente.2 Essa realidade impõe um fardo enorme para as pessoas acometidas e suas famílias, pois está associada ao abandono escolar, dificuldades sociais persistentes, dependência de álcool e drogas, violência e, em casos mais graves, prejuízos funcionais duradouros. Além disso, seu impacto também é grande para a sociedade, com prejuízos significativos na produtividade, na continuidade educacional e na participação no mercado de trabalho.3 O custo global da inação em saúde mental pode chegar a trilhões de dólares, de acordo com estimativas do Fórum Econômico Mundial, refletindo perdas na produtividade e aumentos nas despesas com cuidados de longo prazo.4
Neste artigo, apresentamos uma revisão de achados internacionais e nacionais realizada pelo nosso grupo de pesquisa para propor um modelo integrado de cuidado. As escolas, por reunirem diariamente a maioria das crianças e adolescentes, têm papel central em estratégias de prevenção e cuidado. Por isso, o foco do modelo está no ambiente escolar como um espaço de promoção da saúde mental e prevenção de transtornos mentais, por meio de ações que fortalecem vínculos, desenvolvem competências socioemocionais e utilizam abordagens transdiagnósticas (como a redução de comportamentos de risco). Também são valorizados o uso de tecnologias digitais e a oferta de cuidados precoces, ajustados às necessidades individuais de cada aluno.
Essa reflexão visa contribuir para a construção de políticas públicas mais efetivas, com maior letramento em saúde mental, intervenções acessíveis, escaláveis e culturalmente sensíveis ao contexto do desenvolvimento infantojuvenil. E, em especial, capazes de responder aos desafios atuais, como o uso indiscriminado de mídias sociais.
Um cenário preocupante
Um estudo recente, baseado no Global Burden of Disease Study 2019, estimou a prevalência e a carga de incapacidade (medida em anos vividos com alguma deficiência ou prejuízo funcional importante) causada por transtornos mentais em crianças e adolescentes de 204 países. Em 2019, cerca de 293 milhões de jovens entre 5 e 24 anos apresentavam um transtorno mental, o que corresponde a aproximadamente uma em cada nove pessoas nessa faixa etária. Além disso, por volta de 31 milhões de jovens sofriam de transtornos relacionados ao uso de álcool e substâncias. A prevalência média global foi de 11,6% para transtornos mentais e 1,2% para transtornos por uso de substâncias. Por faixa etária, os dados mostram 6,8% das crianças de 5 a 9 anos com transtornos mentais, subindo para 12,4% dos adolescentes de 10 a 14 anos, 14% dos jovens de 15 a 19 anos e 13,6% dos adultos jovens de 20 a 24 anos.
No Brasil, o Brazilian High-Risk Cohort for Psychiatric Disorders (BHRC), estudo do qual participamos, traz informações relevantes sobre a realidade nacional. A pesquisa acompanhou 2.500 crianças ao longo de mais de 15 anos com foco na análise do neurodesenvolvimento e do risco para transtornos mentais na infância e adolescência.
Os resultados confirmam evidências internacionais de que mais de dois terços dos transtornos mentais na vida adulta têm início na infância e adolescência. O estudo também revela que esses quadros estão fortemente associados a impactos negativos em várias esferas da vida, como o desempenho escolar, o comportamento social e o futuro envolvimento com o sistema de justiça.3,5 Uma análise adicional apontou ainda os impactos econômicos expressivos para as famílias, com perdas anuais de produtividade chegando a US$ 847 entre cuidadores de jovens com quadros mais graves6. No contexto brasileiro, a pesquisa reforça que a pobreza na infância e a exposição precoce a adversidades socioambientais elevam substancialmente o risco de transtornos mentais, refletindo a importância de medidas preventivas em ambientes escolares.5 Outro achado relevante mostra que jovens LGBTQIA+ apresentaram maior probabilidade de enfrentar problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade.7 Isso pode estar relacionado a uma maior vivência de eventos estressantes, como discriminação e violência, em comparação com seus pares cisgêneros heterossexuais.
O estudo destaca que o estigma e o preconceito continuam sendo barreiras significativas para a busca de ajuda e acesso ao tratamento. Entre os participantes do BHRC, o estigma dos pais em relação à saúde mental foi apontado como um dos principais fatores para que apenas 19,2% dos jovens tivessem buscado algum tipo de atendimento especializado.8 Ou seja, mais de 80% dos jovens com sintomas podem ter ficado sem o cuidado necessário por falta de informação e barreiras relacionadas ao estigma social.
Os números estão aumentando?
A saúde mental sempre foi um fator central para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas ganhou ainda mais visibilidade durante o período de isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. Por um lado, houve um aumento na percepção (awareness) pública sobre a alta prevalência e o impacto dos transtornos mentais em jovens, ampliando o espaço para debates sobre o tema. Por outro, casos de graves como bullying e suicídio, frequentemente associados a transtornos mentais, passaram a viralizar nas redes sociais, alimentando uma sensação de descontrole entre pais, educadores e toda a comunidade escolar. Diante desse cenário, surge uma dúvida importante: estamos diante de um aumento real nas taxas de transtornos mentais ou o que cresce é a capacidade de identificação, favorecida pela redução do estigma nos últimos anos?
A literatura científica oferece pistas para a resposta. Diversos estudos apontam que, de fato, há um aumento nas taxas de problemas de saúde mental entre crianças e adolescentes, especialmente no caso de transtornos emocionais, como depressão e ansiedade. Além disso, pesquisas com adolescentes de vários países revelam um aumento preocupante de indicadores relacionados ao sofrimento psíquico, incluindo pensamentos suicidas, automutilação e tentativas de suicídio, mesmo entre aqueles que não receberam diagnóstico formal.
No Brasil, os dados oficiais seguem a mesma tendência. Segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de comportamentos graves tipicamente associados a transtornos mentais em jovens. Entre 2010 e 2019, a taxa de suicídio na população geral cresceu 43%, enquanto o aumento entre adolescentes chegou a 81%. Entre crianças com menos de 14 anos, os números são ainda mais alarmantes9. É importante lembrar que o suicídio representa apenas a ponta do iceberg, uma vez que cerca de 90% dos casos estão associados a transtornos mentais, tornando-se, assim, um indicador indireto da gravidade e da extensão desses transtornos na população jovem.
O problema das telas
Atualmente, a grande maioria dos adolescentes permanece conectada à internet quase o tempo todo, principalmente por meio de celulares. Pesquisas apontam que esses dispositivos são fontes frequentes de distração e que os aplicativos têm características altamente viciantes, estimulando o uso passivo e prolongado, com o hábito de rolar incansavelmente os feeds de redes sociais (o chamado scrolling). Além disso, a interação online tem substituído cada vez mais o tempo e espaço dedicados à socialização presencial e às brincadeiras ao ar livre. Nesse cenário, adolescentes, pais, educadores e formuladores de políticas públicas se veem desorientados diante de uma tecnologia que “é nova, é diferente e não se parece com a infância que eles próprios viveram”, o que aumenta as preocupações sobre os efeitos desses dispositivos na saúde e no desenvolvimento dos jovens.10
Há um corpo crescente de evidências mostrando que o uso passivo e compulsivo de celulares e redes sociais, caracterizado pelo consumo contínuo de conteúdo sem interação ativa, está associado a sentimentos de solidão, isolamento e tédio. Esse padrão de uso pode prejudicar habilidades de regulação emocional, atenção e desempenho acadêmico, além de reduzir o envolvimento dos jovens em atividades presenciais, como estudos e relações interpessoais. Um dos impactos mais bem documentados é o comprometimento do sono, resultado tanto do uso noturno dos dispositivos como da exposição prolongada à luz azul, que interfere no ritmo circadiano e na qualidade do sono. A privação de sono, por sua vez, está ligada ao aumento de sintomas de irritabilidade, ansiedade e depressão.
Outro fator preocupante é a intensificação da ansiedade social e da comparação negativa, especialmente em plataformas que expõem jovens a padrões idealizados de beleza, sucesso e estilo de vida. Esse fenômeno tem sido associado a baixa autoestima, insatisfação corporal e sentimentos de inadequação social. O uso frequente e sem supervisão dessas plataformas, que muitas vezes promovem o culto ao “corpo perfeito”, também está relacionado à adoção de uma dieta restritiva, obsessão com peso e preocupações excessivas com a imagem corporal, configurando um fator de risco importante para transtornos alimentares, sobretudo entre meninas no início da adolescência.
O cyberbullying é outro risco de destaque. Por ser mais invasivo, silencioso e persistente, e portanto mais difícil de ser identificado e enfrentado, pode ser mais perigoso que o bullying tradicional. No ambiente digital, a agressão pode acontecer a qualquer hora e lugar, inclusive dentro de casa, o que a torna contínua e inescapável. Além disso, seu alcance é ampliado com conteúdos ofensivos que podem ser compartilhados e visualizados por milhares de pessoas em poucas horas. Isso transforma o que antes era um conflito localizado numa escola em uma exposição pública de grande escala, aumentando a percepção de humilhação e reduzindo a esperança de que a situação tenha um fim próximo.
LIMITAR OS CELULARES NA ESCOLA É ESSENCIAL PARA FAVORECER O APRENDIZADO E A CONVIVÊNCIA. MAS ATRIBUIR A ELES A RESPONSABILIDADE CENTRAL PELA CRISE DE SAÚDE PÚBLICA JUVENIL É UMA SIMPLIFICAÇÃO EXCESSIVA DE UM FENÔMENO COMPLEXO
O cyberbullying deixa registros digitais permanentes, o que significa que a vítima pode reviver o trauma diversas vezes ao acessar ou ser exposta novamente ao conteúdo ofensivo. Apesar de alguns avanços recentes nas políticas de cibersegurança, o anonimato nas redes sociais ainda favorece a impunidade dos agressores, na medida em que dificulta a identificação, e agrava o sofrimento da vítima. Muitos adolescentes atingidos relatam vergonha ou medo de contar o que estão vivendo, o que contribui para o isolamento social. Estudos apontam que o cyberbullying está associado a um risco maior de ansiedade, depressão, automutilação e até suicídio.
Hoje há um consenso crescente de que limitar o uso de celulares no ambiente escolar é essencial para favorecer o aprendizado e a convivência. No entanto, atribuir aos smartphones a responsabilidade central pela crise de saúde mental juvenil é uma simplificação excessiva de um fenômeno multifatorial e complexo. O desenvolvimento infantil e as origens dos transtornos mentais envolvem uma combinação de fatores como genética, relações familiares, experiências pessoais e sociais.
Embora a influência da tecnologia seja relevante, ela não pode ser analisada isoladamente. A forma como cada jovem responde ao ambiente digital varia consideravelmente, de acordo com seu histórico individual e social, o tipo de conteúdo que consome e as plataformas utilizadas. Uma revisão de estudos apontou, por exemplo, que a exposição a conteúdo relacionado à automutilação pode, em alguns casos, estimular comportamentos de risco, mas também há casos de jovens em sofrimento que encontraram apoio e acolhimento online.
Fica claro, portanto, que a resposta a essa questão precisa ser multidimensional, levando em conta diferentes determinantes do bem-estar mental e as características variadas do uso e da relação com a tecnologia e as mídias sociais. Entre as recomendações mais aceitas estão:
- Educação digital crítica | Incentivar que os alunos desenvolvam um uso consciente, seguro e reflexivo da tecnologia, por meio da abordagem de temas como imagem corporal, fake news, influência dos algoritmos e autorregulação emocional.
- Regras claras e contextualizadas para o uso | Tanto em casa como na escola, é importante estabelecer momentos livres de tecnologia, favorecendo a convivência presencial, mas também evitar proibições absolutas, que muitas vezes são ineficazes.
- Envolvimento de professores e famílias na identificação de sinais de sofrimento emocional ligados ao uso da tecnologia | Isso inclui a criação de espaços de escuta e acolhimento sem julgamento, bem como a discussão aberta sobre limites saudáveis e comportamentos de risco.
- Atenção ao conteúdo e não apenas ao tempo de tela | Compreender quais conteúdos os jovens acessam, seus interesses e os motivos por trás de determinadas preferências pode ser mais eficaz do que restringir apenas a duração do uso.
- Ações preventivas institucionais | Integrar a promoção da saúde mental ao cotidiano escolar, com a criação de espaços permanentes de escuta, grupos de apoio e formação de educadores para reconhecer sinais de sofrimento e articular o encaminhamento aos serviços especializados de saúde mental, quando necessário.
Essa abordagem mais integrada e contextualizada amplia as chances de proteger o bem-estar emocional dos jovens, pois promove não apenas a redução de riscos, mas também o fortalecimento de fatores de proteção.
A escola como ambiente de transformação
Nesse contexto, as escolas se consolidam como ambientes privilegiados para a promoção da saúde mental, uma vez que reúnem crianças e adolescentes em um espaço de convivência e aprendizagem. Os professores desempenham um papel estratégico na prevenção de transtornos mentais, pois são especialistas na faixa etária que atendem, têm uma base de comparação com outros alunos e acompanham as mudanças no comportamento dos estudantes ao longo do ano letivo. Essa posição singular permite que tenham um olhar atento para a identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico, contribuindo tanto para o manejo inicial de questões de saúde mental como para o encaminhamento adequado dos alunos em risco.
No entanto, a insegurança dos educadores frente a esse desafio é evidente. Uma pesquisa qualitativa conduzida com professores dos ensinos fundamental e médio mostrou que 80,6% deles se sentem inseguros ao lidar com situações cotidianas que envolvem transtornos mentais entre os alunos, apontando a falta de informações e de treinamento específico como os principais motivos.11 Paralelamente a esse estudo, realizamos outro para avaliar a capacidade dos professores em identificar problemas de saúde mental e observamos que tinham mais facilidade em reconhecer quadros como Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Oposição e Desafio (TOD), mas encontravam dificuldade em identificar casos de ansiedade e depressão. 12
Um dado que chamou especial atenção foi que muitos alunos percebidos como portadores de algum transtorno apresentavam, na verdade, apenas comportamentos típicos da adolescência. Questionados sobre como conduziram os casos, a grande maioria dos professores afirmou não ter tomado nenhuma medida. Esses resultados evidenciam que a falta de conhecimento adequado sobre saúde mental contribui para a chamada “medicalização da educação”, na qual alunos são rotulados como portadores de transtornos mentais sem receber o cuidado ou o acompanhamento necessário.
A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS ESCOLAS EXIGE UM ESFORÇO COLETIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O ESTIGMA ASSOCIADO AOS TRANSTORNOS MENTAIS E CAPACITAR PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE SINAIS DE SOFRIMENTO PSÍQUICO
A promoção da saúde mental nas escolas, portanto, exige um esforço coletivo de conscientização, com o objetivo de reduzir o estigma associado aos transtornos mentais e capacitar professores e gestores escolares na identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico. Com essa finalidade, programas de letramento em saúde mental para educadores foram desenvolvidos em vários países do mundo como uma estratégia para transformar o ambiente escolar, ampliar o acesso aos cuidados e promover o bem-estar dos alunos. No Brasil, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) foi pioneira ao desenvolver as primeiras iniciativas de letramento em saúde mental, com o Programa Cuca Legal, em parceria com o programa canadense Mental Health Literacy, desenvolvido por Stan Kutcher. Como parte dessa iniciativa, convidamos pesquisadores da academia para escrever o livro Saúde mental na escola: o que os educadores precisam saber, com o propósito de traduzir o conhecimento científico e clínico para uma linguagem acessível e permitir que o material fosse utilizado de forma prática no cotidiano escolar.13
Para ampliar o alcance dessa proposta, fundamos o Instituto Ame Sua Mente (IASM), uma organização sem fins lucrativos com missão de expandir e implementar o trabalho acadêmico realizado pelo grupo na Unifesp. O IASM nasceu com o intuito de transformar a cultura de saúde mental no Brasil, estimulando que as pessoas assumam desde cedo o cuidado com seu desenvolvimento emocional, de modo a realizar seus potenciais e contribuir positivamente para a comunidade. A criação do instituto permitiu grande avanço nas ações de capacitação de educadores, ao agregar ao time pesquisadores multidisciplinares da Unifesp e novos profissionais especializados em implementação de estratégias educacionais e ensino a distância. Estudos quantitativos e qualitativos realizados pelo grupo mostram consistentemente a efetividade das capacitações, com destaque para a redução do estigma entre os professores e, sobretudo, o aumento da capacidade de lidar com questões de saúde mental no ambiente escolar. Até o momento, mais de 5.000 professores foram capacitados, e a formação foi incorporada à Escola de Formação de Professores (Efape), da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).
Os planos de educação individualizados
O impacto das capacitações em saúde mental para professores vai muito além da identificação e encaminhamento de alunos em risco. Um dos efeitos mais relevantes é a melhoria na qualidade das relações entre alunos e professores. Essa mudança está diretamente associada à intenção dos alunos de buscar ajuda para questões de saúde mental. Pesquisas indicam que alunos que relatam ter uma relação positiva com os professores – marcada por respeito, empatia e atenção às necessidades emocionais – têm maiores chances de procurar apoio quando enfrentam dificuldades. Esse efeito é ampliado em ambientes escolares que cultivam uma cultura de acolhimento e diálogo aberto, reduzindo barreiras como o estigma e o receio de expor vulnerabilidades.
Quando esses fatores são reunidos em uma medida de clima escolar, observa-se uma associação significativa com o aumento da utilização de serviços de saúde mental pelos alunos, especialmente nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, em que estudantes interagem com múltiplos professores e vivenciam uma diversidade maior de experiências. Essa evidência sugere que intervenções voltadas para fortalecer as relações interpessoais no ambiente escolar podem ter um efeito multiplicador, incentivando tanto a intenção de buscar ajuda como a efetiva procura por serviços de apoio emocional.
Outro elemento do espectro de ações em saúde mental diz respeito aos alunos com necessidades educacionais especiais que demandam Planos de Educação Individualizados (PEIs). Tradicionalmente, a implementação desses planos tem seguido uma abordagem focada no déficit, que enfatiza as limitações dos estudantes em vez de suas potencialidades. Embora os PEIs sejam uma ferramenta importante para atender às vulnerabilidades, essa abordagem pode, inadvertidamente, reforçar desigualdades e reduzir o engajamento dos alunos e de suas famílias na definição de metas e estratégias educacionais. A adoção de um modelo baseado em fortalezas representa uma mudança fundamental, promovendo uma visão mais positiva e construtiva do desenvolvimento de cada aluno. Além disso, é fundamental promover o empoderamento e a capacidade de autodefesa dos jovens e de suas famílias, como estímulo a uma participação mais ativa nas decisões que afetam sua trajetória escolar e emocional.
Essas questões não se restringem a alunos com necessidades especiais, mas ganham ainda mais relevância no contexto geral de saúde mental dos alunos. Quando crianças, adolescentes e suas famílias recebem ferramentas e oportunidades para participar ativamente de sua trajetória educacional e de saúde mental, seja por meio de um planejamento educacional baseado em forças ou de uma educação em saúde mental apropriada para seu estágio de desenvolvimento, eles se tornam mais colaborativos. O desafio de engajar famílias no enfrentamento de questões de saúde mental é grande, mas com o envolvimento precoce e empoderamento eles se tornam mais propensos a adotar comportamentos proativos, superar o estigma e buscar apoio quando necessário. Isso ressalta a importância de incluir os estudantes e suas famílias como agentes ativos na construção de seus planos educacionais e de saúde mental, em vez de apenas destinatários passivos de decisões impostas por sistemas escolares e profissionais de saúde.
UMA ABORDAGEM INTEGRADA, QUE UNA PREVENÇÃO, CUIDADOS CLÍNICOS E O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, REPRESENTA UM CAMINHO VIÁVEL E URGENTE PARA TRANSFORMAR A SAÚDE MENTAL DOS JOVENS E, CONSEQUENTEMENTE, O FUTURO DE NOSSAS SOCIEDADES
Vertical de saúde mental
Diversos estudos mostram que intervenções focadas na melhoria das relações entre professores e alunos podem ter um impacto significativo no acesso aos cuidados em saúde mental.14 A responsividade dos professores – ou seja, sua capacidade de perceber e responder de maneira adequada às necessidades emocionais dos alunos – está diretamente associada ao aumento da confiança dos jovens em buscar ajuda. Esse aspecto é determinante para uma mudança de atitude, pois promove entre os estudantes um sentimento de autoeficácia, ou seja, a percepção de que são capazes de enfrentar seus desafios emocionais. Além disso, ambientes escolares com uma cultura de saúde mental, nas quais o apoio mútuo e o diálogo aberto são pilares centrais, reduzem barreiras como o estigma e funcionam como fatores de proteção emocional. O avanço no letramento em saúde mental é fundamental para que educadores falem a mesma língua e desenvolvam estratégias alinhadas e complementares.
No entanto, temos observado que o letramento, por si só, não é suficiente para promover uma mudança mais profunda nas práticas institucionais. Estudos que agregam as percepções individuais dos profissionais da escola para medir o clima escolar apontam que um ambiente coletivo de apoio está associado a uma maior eficácia na gestão de questões relacionadas à saúde mental. Esses achados reforçam a importância de intervenções que atuem tanto no nível individual como no institucional, sinalizando que políticas estruturadas e mudanças culturais mais amplas nas escolas são urgentes e necessárias. A transformação começa por uma revisão dos valores e princípios que orientam a vida escolar, para que a saúde mental seja um tema transversal à educação e um eixo estruturante da cultura escolar.
As iniciativas voltadas ao bem-estar da comunidade escolar precisam ser coerentes com os valores institucionais, refletindo-se nas decisões da equipe diretiva e nas práticas cotidianas de professores e funcionários. Esses princípios devem reverberar nas relações dentro da sala de aula e no modo como alunos são acolhidos e reconhecidos.
No âmbito desses valores destacam-se três pilares fundamentais:
- Acolhimento de todos os perfis de estudantes: tomando cuidado para não rotular alunos com problemas.
- Fortalecimento da autoestima da comunidade escolar: valorizar e reconhecer tanto alunos como professores, reforçando o sentido de pertencimento e a importância do trabalho coletivo.
- Promoção de um clima de comunidade escolar saudável: a) relações mais coesas entre professores e alunos; b) segurança emocional e física para todos a partir de acordos claros e regras compartilhadas; c) participação ativa dos alunos na construção de algumas regras da escola juntamente com o corpo docente.
Quando o tema é segurança escolar, a realidade mostra um quadro desafiador. Questões como violência, autolesão, uso de drogas, racismo e suicídio têm se tornado parte da rotina escolar, gerando insegurança entre alunos e educadores. Diante dessa realidade, o IASM desenvolveu o Guia de Saúde Mental na Escola, um material que propõe uma mudança cultural, abordando desde discussões sobre os valores institucionais até recomendações práticas para lidar com os desafios cotidianos, como os citados acima. Em parceria com o Instituto Unibanco, essa proposta foi aprimorada e ampliada, e atualmente está em fase de desenvolvimento uma capacitação específica para gestores escolares, com foco na implementação de uma vertical de saúde mental para toda a escola. Essa formação é estruturada em cinco eixos principais:
- A escola como espaço de cuidado.
- O conhecimento como base para a transformação.
- A cultura escolar como promotora da saúde mental, com foco na construção de ambientes seguros, acolhedores e saudáveis.
- A saúde mental como eixo estratégico da gestão escolar.
- O cuidado com o próprio gestor.
Integração de modelos de cuidados e as novas tecnologias
Um modelo de cuidados integrados para a saúde mental juvenil implementado na Austrália há cerca de 20 anos4 visa redesenhar os serviços de saúde mental para jovens, com foco em intervenções precoces e atendimento contínuo em uma plataforma única. Essa abordagem prevê a criação de sistemas interconectados, que articulem o cuidado desde a educação e a atenção primária até os serviços especializados. A experiência australiana demonstrou que, quando os professores estão bem capacitados e o clima escolar é favorável, as escolas podem funcionar como a porta de entrada para os cuidados de saúde mental, facilitando o acesso a serviços especializados, que podem ser complementados por intervenções digitais.
Esse modelo de cuidado se baseia em quatro pilares principais:
- Prevenção e intervenção precoce | Reconhecendo que a maioria dos transtornos mentais tem início na juventude, o modelo enfatiza a importância de intervenções preventivas e de detecção precoce dos sintomas, com encaminhamento rápido para os cuidados adequados. Essas estratégias visam melhorar o prognóstico, reduzir a incidência de comorbidades e diminuir a carga global de doença mental entre jovens.
- Envolvimento dos jovens e codesign | A participação ativa dos jovens na concepção, implementação e avaliação dos serviços de saúde mental é considerada fundamental. Ao incluir os jovens como parceiros no processo, os programas se tornam mais alinhados às suas reais necessidades, o que aumenta a eficácia e a adesão às intervenções.
- Integração com o ambiente escolar | As escolas são vistas como portas de entrada estratégicas para os serviços de saúde mental. Um clima escolar que favoreça relações positivas e o apoio mútuo facilita tanto a identificação precoce de transtornos como a promoção de ações preventivas. Nesses contextos, os professores assumem um papel central como agentes de mudança e, assim, o alcance das intervenções é ampliado.
- Plataformas integradas e digitalização | As intervenções digitais surgem como uma oportunidade promissora para ampliar o alcance e a eficácia da capacitação docente. Estudos recentes 15indicam que ferramentas digitais como simulações online, cursos web-based, módulos interativos e aplicativos de suporte proporcionam uma experiência prática, envolvente e personalizada de aprendizagem. Esses recursos não apenas transmitem conhecimento, mas também oferecem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e de manejo de situações relacionadas à saúde mental, aumentando a autoeficácia dos professores ao enfrentarem esses desafios no dia a dia escolar.
Ao integrar os conteúdos dos programas de letramento em saúde mental com tecnologias digitais, é possível criar um modelo de capacitação escalável e de baixo custo, que pode ser implementado de forma contínua e adaptada às necessidades específicas de cada escola ou região. Essa abordagem também favorece a atualização constante dos conteúdos, garantindo que os educadores tenham acesso às melhores práticas e às evidências mais recentes no campo da saúde mental. Um outro efeito que percebemos a partir da experiência de formações em saúde mental com professores da rede pública foi a criação de uma comunidade de interessados no tema, com troca de experiências e o desenvolvimento de um senso de pertencimento.
Além da capacitação, a utilização de tecnologias digitais para apoiar a prestação de cuidados – como aplicativos, plataformas online e intervenções digitais – amplia o alcance dos serviços e facilita o monitoramento contínuo dos sintomas. Plataformas digitais, como as utilizadas pelos programas Headspace (Austrália) e ACCESS Open Minds (Canadá), têm se mostrado promissoras para oferecer cuidados de saúde mental de forma escalável e acessível. Essas plataformas, quando integradas com serviços presenciais, podem oferecer uma abordagem “híbrida” que une o melhor da tecnologia com o atendimento humano. O aplicativo mindLAMP, por exemplo, permite a personalização do cuidado por meio de monitoramento contínuo, fornecendo dados que auxiliam na tomada de decisões clínicas. Essa integração de dados e intervenções pode ser aplicada não só no atendimento clínico, mas também na capacitação e suporte aos educadores, criando um ciclo virtuoso de promoção e prevenção no ambiente escolar.
Desafios e barreiras para a implementação
Apesar do potencial transformador dessas abordagens, existem desafios importantes que precisam ser superados. Entre eles, a necessidade de adaptação dos modelos de cuidados e intervenções às realidades locais – tanto em termos culturais como de infraestrutura. Em países de baixa e média renda, onde o acesso à tecnologia pode ser limitado, é crucial desenvolver soluções que sejam economicamente viáveis e culturalmente sensíveis. Nesse contexto, a implementação de intervenções digitais deve ser acompanhada de estratégias de capacitação que considerem as desigualdades socioeconômicas e as especificidades de cada comunidade escolar.
Outro desafio relevante é a necessidade de estudos longitudinais e de melhor qualidade metodológica para avaliar a eficácia das intervenções. Uma revisão sistemática16 aponta que, embora os resultados sejam promissores, a maioria dos estudos apresenta riscos elevados de viés e seguimentos de curto prazo. Isso dificulta a avaliação dos efeitos sustentados das intervenções e sua real contribuição para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde mental.
Além disso, há barreiras relacionadas à implementação e à escalabilidade dos programas. A resistência a mudanças, a falta de recursos financeiros e a necessidade de integração entre diferentes setores – saúde, educação e assistência social – são obstáculos que precisam ser superados para que as intervenções possam ser efetivamente implementadas em larga escala. A criação de “plataformas de entrada suave” e a utilização de tecnologias digitais podem ajudar a reduzir esses entraves, mas exigem um compromisso político e uma coordenação intersetorial que muitas vezes ainda não estão presentes em diversos contextos.
Benefícios para toda a sociedade
Investir na saúde mental dos jovens é uma estratégia fundamental não apenas de saúde pública, mas de desenvolvimento social e econômico sustentável. Transtornos mentais na infância e adolescência comprometem o aprendizado, o ingresso no mercado de trabalho e a participação cidadã, com impactos que se estendem por toda a vida adulta. Reduzir sua incidência contribui diretamente para a produtividade, a equidade e o fortalecimento do tecido social.
Modelos integrados de cuidado, que articulam ações preventivas, serviços presenciais e recursos digitais, vêm se consolidando internacionalmente como estratégias eficazes. Quando escolas, famílias e sistemas de saúde atuam em sinergia, cria-se um acesso menos penoso ao cuidado: livre de estigmas, acessível e sensível às realidades dos jovens. Programas como Headspace, na Austrália, e ACCESS Open Minds, no Canadá, ilustram o potencial dessa abordagem.
A capacitação de professores, aliada ao uso de tecnologias digitais, pode transformar as escolas em espaços estratégicos de acolhimento e encaminhamento precoce. Além de fortalecer a rede de proteção, essas iniciativas fomentam uma nova cultura escolar, baseada na escuta, no pertencimento e na corresponsabilidade.
O caminho do cuidado nos parece claro: ambientes escolares positivos, educadores preparados, jovens engajados e políticas públicas consistentes. Uma abordagem integrada, que una prevenção, cuidado clínico e inovação tecnológica, pode mudar trajetórias individuais e coletivas. Transformar a saúde mental da juventude é, em última instância, transformar o futuro das sociedades.
Leia também:
Saúde mental nas escolas é tema da nova edição especial da SSIR Brasil
Como a sabedoria indígena pode apoiar a saúde mental dos jovens
Notas
- Kessler, R. C. et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry, v. 62, n. 6, p. 593-602, 2005. ↩︎
- Fatori, D. et al. Use of mental health services by children with mental disorders in two major cities in Brazil. Psychiatr Serv, v. 70, n. 4, p. 337-341, 2019. ↩︎
- Hoffmann, M. S. et al. Comparing mental health semi-structured diagnostic interviews and symptom checklists to predict poor life outcomes: an 8-year cohort study from childhood to young adulthood in Brazil. Lancet Glob Health, v. 12, n. 1, e79-e89, Jan. 2024. ↩︎
- McGorry, Patrick D. et al. Designing and scaling up integrated youth mental health care. World Psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association (WPA), v. 21, n. 1, p. 61-76, 2022. ↩︎
- Ziebold, C. et al. Childhood poverty and mental health disorders in early adulthood: evidence from a Brazilian cohort study. European Child & Adolescent Psychiatry, v. 32, n. 5, p. 903-914, 2023. ↩︎
- Ziebold, C. et al. Estimating the economic impacts for caregivers of young people with mental health problems in a Brazilian cohort. Value in Health: the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, v. 28, n. 3, p. 336-347, 2025. ↩︎
- Terra, T. et al. Mental health conditions in lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and asexual youth in Brazil: a call for action. Journal of Affective Disorders, v. 298, Pt A, p. 190-193, 2022. ↩︎
- Ziebold, C. et al. Utilisation and costs of mental health-related service use among adolescents. PloS One, v. 17, n. 9, e0273628, 9 Sep. 2022. ↩︎
- Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde, 2021. ↩︎
- Goodyear, V. A. et al. Approaches to children’s smartphone and social media use must go beyond bans. BMJ (Clinical Research ed.), v. 388, e082569, 27 Mar. 2025. ↩︎
- Soares et al. Percepção de professores de escola pública sobre saúde mental. Rev Saúde Pública, v. 48, n. 6, p. 940-948, 2014. ↩︎
- Vieira, M. A. et al. Evaluating the effectiveness of a training program that builds teachers’ capability to identify and appropriately refer middle and high school students with mental health problems in Brazil: an exploratory study. BMC Public Health, v. 14, article n. 210, 28 Feb. 2014. ↩︎
- Estanislau, G. M.; Bressan, R. A. Saúde mental na escola: o que os educadores devem saber. São Paulo: Artmed, 2014. ↩︎
- Halladay, J. et al. Teacher-student relationships and mental health help seeking behaviors among elementary and secondary students in Ontario Canada. Journal of School Psychology, v. 81, p. 1-10, 2020. ↩︎
- Costardi, C. G. et al. Digital mental health interventions for school teachers: a narrative review. Early Intervention in Psychiatry, v. 17, n. 8, p. 749-758, 2023. ↩︎
- Yamaguchi, S. et al. Mental health literacy programs for school teachers: a systematic review and narrative synthesis. Early Intervention in Psychiatry, v. 14, n. 1, p. 14-25, 2020. ↩︎