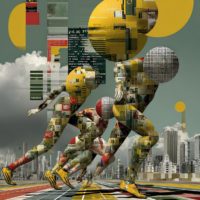Em foco
- Problemas de saúde mental são uma das maiores causas de evasão escolar
- A maioria das escolas ainda atua apenas como espaço de encaminhamento
- Ambientes com vínculos positivos reduzem sintomas de sofrimento
- Programas socioemocionais melhoram desempenho acadêmico e bem-estar
- Intervenções preventivas têm impacto sustentável quando bem implementadas
A saúde mental de crianças e adolescentes vem ganhando destaque no campo da pesquisa em saúde e no âmbito das políticas públicas. A ênfase no tema é motivada pelo crescimento expressivo da incidência de transtornos mentais entre pessoas com menos de 18 anos e pela influência de interesses políticos e econômicos que se manifestam no debate acadêmico e nas resoluções propostas para a saúde pública.
Como espaço no qual crianças e adolescentes passam parte significativa de seu tempo, a escola ocupa uma posição estratégica, pois é nela que os sinais de sofrimento psíquico costumam aparecer. Embora possa servir de refúgio diante de conflitos familiares e territoriais, a escola também pode agravar o sofrimento na medida em que reflete tensões sociais como o racismo ou outras formas de discriminação, além das diversas violências presentes no cotidiano, como o bullying. Nesse complexo contexto, a sensação de impotência entre educadores é crescente.
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1 em parceria com o Ministério da Saúde, publicou em 2021 dados alarmantes: 31,4% dos estudantes pesquisados, que tinham entre 13 e 17 anos, relataram tristeza persistente; 40,9% afirmaram sentir irritação, nervosismo ou mau humor frequente; e 21,4% declararam ter a sensação recorrente de que a vida não valia a pena ser vivida.
Os números não são menos preocupantes em nível global: 11,63% das pessoas entre 5 e 24 anos têm algum transtorno mental. O trabalho do psiquiatra Christian Kieling e colaboradores2 confirma um aumento significativo dos casos diagnosticados em todas as faixas etárias entre 10 e 14 anos, 15 e 19 anos e 20 e 24 anos, períodos de maior vulnerabilidade, quando ocorrem mudanças escolares e transições marcantes da infância para a adolescência e para a vida adulta.
Educação e saúde, novas abordagens
Historicamente, a relação entre a escola e a saúde mental se estruturou com base em um fluxo de encaminhamento: casos considerados “mais leves” eram direcionados à atenção básica, enquanto os mais graves seguiam para atendimento especializado. No entanto, esse modelo tem demonstrado limitações profundas tanto na atenção básica como na especializada.
A superlotação e a precarização dos serviços, com déficits estruturais, impedem um atendimento ágil e eficaz. Além disso, os serviços territoriais não conseguem cumprir plenamente sua função de atuar nas comunidades escolares, deixando de lado iniciativas coletivas que poderiam fortalecer a lógica da promoção da saúde.
Outro ponto crítico é a medicalização excessiva, que reduz problemas sociais e culturais complexos – como as múltiplas violências e o ritmo acelerado da vida contemporânea – a diagnósticos psiquiátricos simplificados, frequentemente resultando em intervenções inadequadas. A fila de espera por atendimento especializado, longa e desgastante, intensifica ainda mais o sofrimento de crianças e adolescentes.
Alguns agravantes, como a mercantilização das soluções em saúde mental,3 com oferta de técnicas e equipamentos pautados por uma lógica capitalista de “soluções rápidas” para problemas complexos, e o retorno a modelos centrados na internação e institucionalização de crianças e adolescentes,4 reforçam retrocessos críticos. Sem contar que as camadas mais pobres da população são as mais vulneráveis, e seriam as primeiras a ser afastadas do modelo de proteção integral defendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).5
Embora a atenção básica e a atenção secundária (especializada) sejam essenciais, o desafio atual exige a criação de tecnologias de cuidado mais descentralizadas e intersetoriais, que aproveitem os equipamentos comunitários e articulem setores diversos para ampliar o alcance e a efetividade do cuidado.
Promoção da saúde mental
O conceito de promoção da saúde surgiu entre as décadas de 1980 e 1990, sobretudo no Canadá, Estados Unidos e Europa, com a constatação de que a prevenção e o tratamento de doenças não eram suficientes para garantir qualidade de vida. A Carta de Ottawa, de 1986, documento fundamental da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a promoção da saúde em nível global, defende a atuação em cinco áreas:6 elaboração de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde com o fortalecimento da atenção básica.
Saúde mental é “um estado de bem-estar mental que permite que as pessoas lidem com o estresse da vida, percebam suas habilidades, aprendam, trabalhem e contribuam para sua comunidade”, conforme definição da OMS. Determinantes biológicos, sociais e culturais influenciam na saúde mental, como por exemplo a fome, o racismo, as relações de gênero e a presença de violência extrema no território onde se habita. Ter ou não saúde mental não depende apenas do indivíduo, mas exige uma análise cuidadosa dos contextos de vida e da presença/ausência de redes formais e informais de proteção e cuidado.
Três abordagens principais foram identificadas numa revisão sistemática de 20247 de práticas de promoção da saúde mental nas escolas: o letramento em saúde mental, o desenvolvimento de competências socioemocionais e a aprendizagem social e emocional. Tais práticas se centram, sobretudo, em mudanças individuais.
No entanto, estratégias realmente eficazes vão além do desenvolvimento individual: elas constroem espaços coletivos de escuta, participação e pertencimento, fundamentais para que crianças e adolescentes possam expressar suas vivências e construir coletivamente formas de enfrentamento.
Estudos recentes8,9,10 reforçam que práticas bem-sucedidas de promoção da saúde mental nas escolas devem contemplar o diálogo com a comunidade escolar, o protagonismo estudantil e a intersetorialidade como abordagem essencial para lidar com o sofrimento psíquico. Além disso, esse trabalho deve partir do reconhecimento do valor da palavra de crianças e adolescentes e da importância do “adulto de referência” para escutá-las, realizar atividades promotoras de confiança e solidariedade, mediar conflitos e agenciar a construção das redes de proteção e assistência quando necessário.
Entre os princípios da promoção da saúde mental estão compreender a saúde mental como produção de bem-estar (em vez de ausência de doença); assegurar que a promoção da saúde não se limite à detecção de riscos; defender a saúde como direito fundamental; e reconhecer a intersetorialidade como motor que permite a atuação conjunta de setores diversos (como educação, saúde, assistência social e justiça) para criar redes eficazes de proteção.
Como articular as redes
No recém-publicado Síntese de evidências sobre a promoção da saúde mental no contexto escolar,11 reforçamos o papel fundamental e imprescindível da articulação e do trabalho em rede entre setores diversos de proteção a crianças e adolescentes, enfatizando que não existe promoção da saúde mental de crianças e adolescentes sem redes intrassetoriais e intersetoriais. As recomendações apresentadas no documento trazem estratégias voltadas para as políticas públicas, com foco no apoio aos equipamentos educacionais, e as direcionadas especificamente às escolas.
Para a construção de políticas públicas, diversas ações são recomendadas, entre as quais estão: criar políticas federais/esta-
duais de incentivo para estudos que abordem a escola de modo mais integrado ao contexto sociocultural no qual está inserida, a fim de conhecer os territórios onde habitam e circulam seus estudantes, com seus recursos e suas dificuldades; mapear possíveis espaços e equipamentos para a construção de redes intersetoriais; e construir projetos para movimentar o trabalho em rede.
Também desempenha papel importante a criação de editais para a realização de projetos, por meio dos quais as universidades possam, em parceria com as escolas (rede intrassetorial), apoiar o estabelecimento de uma cultura da promoção da saúde na escola de natureza intersetorial. Neste caso, é fundamental que sejam projetos abertos para que a construção aconteça junto com a escola, em vez de soluções prontas e descontextualizadas. O modelo de apoio matricial do Sistema Único de Saúde (SUS) pode servir de inspiração.
A articulação das redes de proteção a crianças e adolescentes é fundamental; não existe promoção da saúde mental de crianças e adolescentes sem redes intrassetoriais e intersetoriais
O estudo também indica o investimento em estratégias destinadas a fornecer subsídios para que a escola possa realizar o trabalho territorial, sobretudo no que diz respeito aos deslocamentos necessários e contabilizando as atividades de mapeamento e construção de redes como parte integrante e fundamental do trabalho.
Outra recomendação listada é instituir políticas de incentivo no âmbito das secretarias municipais de educação para a criação de fóruns intersetoriais que envolvam os atores da rede de proteção e assistência a crianças e adolescentes, assim como conceber estratégias que valorizem e incentivem os trabalhos de redução de danos, na parceria entre as escolas e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para usuários de álcool e outras drogas.
Por fim, ainda no campo das políticas públicas, o documento sugere a criação de modos de levantamento das experiências bem-sucedidas de enfrentamento ao racismo, à discriminação de gênero, de orientação sexual, e o desenvolvimento de políticas nacionais que priorizem a inserção e permanência de pessoas com deficiência e trabalhem no sentido da redução da desigualdade social.
Para o trabalho nas escolas, o estudo aponta recomendações mais práticas, que podem ser entendidas mais como pistas:
- Realizar conversas com os estudantes sobre os direitos estabelecidos no ECA e sobre a rede à qual podem recorrer nos casos de violação desses direitos. De preferência, convidar profissionais da rede para colaborar, participando de espaços coletivos.
- Desenvolver ações intersetoriais de promoção da saúde, sensíveis aos determinantes sociais da saúde, inclusive com projetos cujo cerne seja o enfrentamento às diversas formas de violência presentes no cotidiano escolar.
- Realizar ações que fortaleçam os laços de solidariedade entre os membros da escola e destes com as comunidades – aquela onde se localiza a escola, bem como aquelas que abrigam os estudantes.
- Implementar estratégias para uma maior aproximação com as famílias, para além das reuniões de pais. Nessa direção, a promoção de atividades culturais, de esporte e de lazer pode ser uma via interessante, desde que se considerem as realidades socioculturais das famílias envolvidas.
- Fortalecer o protagonismo dos estudantes, criando com eles espaços para o exercício da cidadania e do diálogo com a gestão. A assembleia de alunos e o fortalecimento dos espaços de representação estudantil são fundamentais nesse sentido.
- Desenvolver ações de proteção aos direitos de crianças e adolescentes com a rede intersetorial na qual a escola representa um dos setores envolvidos.
Está cada vez mais evidente que a promoção da saúde mental no contexto escolar tornou-se uma necessidade urgente frente ao aumento do sofrimento psíquico entre crianças e adolescentes. Para além da medicalização e do encaminhamento para serviços sobrecarregados, é essencial adotar uma abordagem ampliada que considere os determinantes sociais, culturais e políticos da saúde mental.
Mais do que detectar a dor emocional de crianças e adolescentes e encaminhar casos, as escolas devem ser espaços que favorecem a construção de vínculos saudáveis, redes de apoio e práticas coletivas de cuidado. A promoção da saúde mental exige um compromisso intersetorial e a participação ativa de todos os envolvidos – educadores, profissionais de saúde, famílias e, principalmente, os próprios estudantes – como forma de garantir que sejam sujeitos ativos na construção de um ambiente escolar mais acolhedor e saudável.
NOTAS
1 IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https:// www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educação/9134-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar.html. Acesso em: 25 nov. 2024.
2 Kieling, Christian et al. WorldWide prevalence and disability from mental disorders across childhood and adolescence: evidence from the Global Burden of Disease Study. JAMA psychiatry, v. 81, n. 4, p. 347-356, 2024. Disponível em: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2814639. Acesso em: 25 nov. 2024.
3 Fernandes, Amanda Dourado S. A. et al. A “indústria” do autismo no contexto brasileiro atual: contribuição ao debate. Material Técnico, abr. 2024. Disponível em: https://ugc.production.linktr.ee/ba2a6db8-d412-44b3-ac90-8e4255c2266b_A–ind-stria–do-autismo-no-contexto-brasileiro-atual–contribui–o-ao-debate.pdf. Acesso em: 25 nov. 2024.
Fernandes, Daiana E. R. et al. Abordagens em saúde mental para crianças no ambiente escolar: um relato de experiência. Revista de APS, v. 26, 2023. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/e262340624. Acesso em: 25 nov. 2024
4 Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes/Rede Pq-SMCA. Contribuições para o avanço da Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes. Documento técnico apresentado ao Departamento de Saúde Mental e Enfrentamento ao Abuso de Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde. 2023. Disponível em: https://www.ciespi.org.br/…. Acesso em: 24 mar. 2025.
5 Brasil. Congresso Nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 jul. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 25 nov. 2024.
6 Czeresnia, Dina. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. In: Czeresnia, Dina; Freitas, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
7 Silva, Danielle B. Bernardes et al. Estratégias para promoção da saúde mental de crianças e adolescentes no contexto escolar: uma revisão sistemática. Contribuciones a las Ciencias Sociales, v. 17, n. 5, 2024. Disponível em: https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6625. Acesso em: 25 nov. 2024.
8 Rodrigues, Maryana de C. et al. Reflexões sobre promoção de saúde na escola: invenções e possibilidades de uma extensão universitária. desidades, n. 31, p. 207-219, 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S2318-92822021000300013&script=sci_abstract. Acesso em: 25 nov. 2024.
9 Souza, Thaís Thaler et al. A terapia ocupacional na promoção da saúde mental de adolescentes de uma escola pública. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social, v. 10, n. 2, p. 388-398, abr./jun. 2022. Disponível em: https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs/article/view/6152. Acesso em: 25 nov. 2024.
10 Oliveira, Bruno D. Castro de et al. Promoção de Saúde Mental no contexto escolar: potências, desafios e a importância da colaboração intersetorial para o campo da Atenção Psicossocial. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 34, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-7331202434077pt. Acesso em: 25 nov. 2024.
11 Jucá, Vládia. Promoção de saúde mental no contexto escolar. São Paulo: D3e, 2024. Disponível em: https://d3e.com.br/relatorios/promocao-de-saude-mental-no-contexto-escolar/. Acesso em: 24 mar. 2025