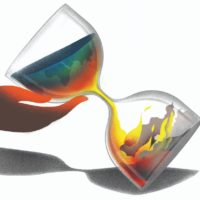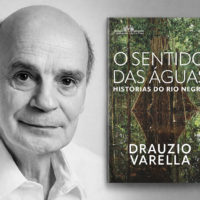O artigo sobre como recuperar parcerias intersetoriais de baixo desempenho é um convite oportuno para refletirmos sobre o real potencial e os limites desse modelo, especialmente a partir de experiências vividas por organizações da sociedade civil no Sul Global. Ao descrever o modelo Strategic Seeding of Latent Capacity (SSLC), os autores oferecem diretrizes valiosas, mas que, para quem está inserido em territórios onde a exclusão é estrutural e cotidiana, ainda soam insuficientes se não vierem acompanhadas de uma crítica mais profunda à assimetria de poder presente nas parcerias.
Na Ação da Cidadania, temos lidado com parcerias intersetoriais há décadas, com governos, empresas, fundações e movimentos sociais. Em todas elas, a primeira lição que aprendemos foi simples, mas transformadora: não há parceria verdadeira quando o território é apenas executor e não autor. A maior parte das colaborações que fracassam não o faz por falta de boas intenções, mas por descompasso entre quem propõe e quem vive os problemas. O que chamam de baixa performance costuma ser, na verdade, alta imposição e baixa escuta.
O artigo destaca com precisão problemas de coordenação, valoração e confiança, além da necessidade de construir capacidades invisíveis e locais. Esses são temas que ressoam com nossas práticas. O que o texto talvez subestime é o nível de desequilíbrio estrutural que permeia essas relações, especialmente quando uma das partes detém os recursos, as regras e a régua de avaliação. Em nossa experiência, é nesse ponto cego que a maioria das parcerias desaba.
O modelo SSLC propõe quatro táticas fundamentais: trabalhar por metas locais, descentralizar o controle, registrar conhecimento comunitário e investir no longo prazo. Em nossa trajetória, aprendemos que essas táticas só funcionam quando o poder também é redistribuído. Um bom exemplo é o cruzamento que fizemos entre a Pirâmide de Maslow, um modelo que hierarquiza as necessidades humanas, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando sobrepostos, fica evidente a distorção entre o que é priorizado nas agendas de investimento filantrópico e o que é urgente nos territórios. Enquanto se investe em inovação, educação disruptiva ou energia limpa, há famílias sem acesso a água, comida ou saneamento. Já escutamos de parceiros: “estamos oferecendo cursos gratuitos de tecnologia, mas ninguém aparece”. E a resposta é simples: “ninguém aparece porque não tem o que jantar em casa”.
É nesse ponto que a escuta do território, apontada como tática pelo modelo SSLC, precisa ser radicalizada: não é escutar para adaptar a solução – é escutar para abrir mão da solução. O conhecimento está lá. O que falta é humildade institucional para reconhecê-lo e para redistribuir poder e protagonismo. Na Ação da Cidadania, chamamos isso de “governar com o território”. Significa que não desenhamos projetos em PowerPoint para depois buscar “validar” com lideranças locais. Trabalhamos juntos, desde o começo, inclusive para decidir se o projeto deve ou não existir. Muitas vezes, é justamente o não fazer que mostra maturidade institucional e respeito.
Outro aspecto essencial é o compromisso de longo prazo. Durante esses anos, percebemos que só com esse tipo de aliança uma organização consegue se aprofundar na sua causa, virar referência, gerar dados e metodologias robustas, influenciar políticas públicas e manter coerência institucional. O apoio pontual pode ser útil em emergências, mas o que transforma é o enraizamento, a possibilidade de planejar com horizonte, investir em pesquisa e sustentar processos que não cabem nos ciclos de 12 meses dos editais. Um projeto de incidência que barra um retrocesso legislativo pode ter impacto muito maior do que uma série de ações pontuais, mas como isso entra no dashboard de ESG de uma corporação?
Esse ponto se conecta à dimensão mais invisível do SSLC: a capacidade de gerar resiliência institucional e política. O artigo cita bem os desafios de valoração e de comunicação, mas não toca diretamente na questão do ESG e seu efeito colateral mais grave: os apagões temáticos e territoriais causados pela lógica da materialidade financeira. Com a priorização de indicadores defensáveis perante investidores, muitos fundos e empresas simplesmente deixaram de financiar organizações que atuam com populações indígenas, quilombolas, juventudes periféricas ou pautas como cultura popular, mobilização política e advocacy. Temas essenciais para a democracia são descartados por não apresentarem métricas “rápidas”, como se o valor real do impacto social pudesse ser sempre quantificado.
Aqui cabe também uma crítica à forma como muitas parcerias público-privadas são operacionalizadas. As relações com o poder público tendem a ser regidas por exigências burocráticas excessivas, que engessam a capacidade de inovação da sociedade civil. Projetos muitas vezes morrem antes de nascer, sufocados por editais mal desenhados, prazos irreais ou prestações de contas que priorizam o formulário em vez do impacto. Em vez de estimular a confiança, esses mecanismos estimulam o medo. E o medo mata a ousadia.
Por isso, insistimos que reimaginar parcerias exige também repensar o papel do Estado. Em vez de mero contratante, o Estado pode e deve ser indutor de transformação, parceiro ético e financiador estratégico. Mas, para isso, precisa escutar mais e controlar menos. Precisa abrir mão da lógica da vigilância e adotar a lógica do cuidado.
Por fim, um ponto que merece destaque: a importância de lideranças que não se colocam como centro das organizações. Ao longo dos anos, internalizamos que liderar é formar sucessores, não seguidores. É fazer com que a organização ande sem você. Uma liderança que busca protagonismo pessoal tende a enfraquecer a organização no longo prazo e a se tornar ela mesma um gargalo para mudanças verdadeiras. As melhores parcerias que tivemos foram aquelas que não giravam em torno de uma “figura central”, mas de valores partilhados, coerência institucional e responsabilidade coletiva.
Parcerias intersetoriais ainda são, sem dúvida, uma via promissora para a transformação social. Mas para que deixem de ser apenas um arranjo eficiente e se tornem uma ferramenta justa, é preciso mais do que um novo modelo. É preciso uma nova ética de relação entre setores, baseada em escuta real, redistribuição de poder, confiança e humildade. Sem isso, continuaremos vendo parcerias bem-intencionadas que, ao menor sinal de tensão, fracassam – não porque faltou capacidade, mas porque faltou coragem para reequilibrar a mesa.
Leia também: Como recuperar parcerias intersetoriais de baixo desempenho
Como revitalizar parcerias intersetoriais? Organizações brasileiras comentam