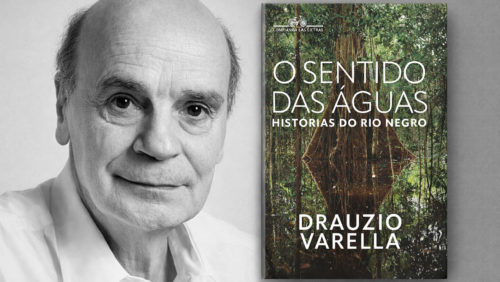Dez anos atrás, seria difícil acreditar que, em 2025, conteúdos mentais digitados em um teclado bastariam para exibir na tela vídeos com qualidade digna de cinema. Antes, isso pareceria delírio.
Ferramentas como Veo 3, Runway Gen-3 Alpha e Sora da OpenAI são utilizadas para transformar ideias em imagens em movimento em questão de segundos. A sensação talvez seja similar à daqueles espectadores que, em 28 de dezembro de 1895, assistiram à primeira demonstração pública do cinematógrafo dos irmãos Auguste e Louis Lumière,1 no Grand Café, em Paris, e correram para não ser atropelados pelo trem que “invadia” a tela no filme L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat.2
Estamos vivendo um momento semelhante agora?
O que é arte?
Em 2025, arte é a exploração de uma estrutura complexa. Artistas, cientistas, tecnólogos – eu, você, nós – combinamos práticas artísticas e científicas.
Misturamos literatura, desenho, modelagem computacional, análise de dados, bioinformática, performance, simulações, ficção científica, história e engenharia.
Uma tarefa complexa, que envolve resolver quebra-cabeças mentais, decodificar nossa capacidade de imaginar, aprender e fazer coisas: expressar, inventar, brincar, especular, sondar mundos, formular teorias, construir modelos, realizar simulações, experimentar práticas, interagir com humanos, com máquinas, com a realidade.
Envolve descobrir como percebemos o mundo, como processamos informações, como unimos dados não relacionados, raciocinamos e inferimos respostas não explícitas, como chegamos a conclusões, memorizamos dados e executamos ações.
Além disso, envolve decodificar o mundo e as leis da Física, e ser capaz de projetar e construir máquinas que expressem ou até percebam, aprendam, raciocinem, prevejam e planejem ações em múltiplos horizontes de tempo. Isto é, desenvolver, implementar e operar, por meio de algoritmos, sensores, câmeras, realidades virtuais, instalações imersivas, inteligências artificiais (IAs), robôs e outras tecnologias avançadas.
Pelo propósito, pela forma de manufatura e pelo impacto que esse trabalho produz na natureza e no sistema bioquímico humano, historiadores3 das artes e das ciências referem-se ao resultado dessas explorações como arte e ciência.
E o que são algoritmos?
Algoritmos são operadores de linguagem lógica estruturada que processam informações: sequências de instruções, conjuntos de regras, códigos, software, receitas ou passos.
Podem ser implementados e executados tanto por sistemas analógicos, como o cérebro e o corpo humano, quanto por sistemas digitais, como computadores, IAs e robôs, ou ainda por sistemas híbridos em que humanos e máquinas atuam de forma integrada.
Algoritmos funcionam como meios, ferramentas, colaboradores ou, em algumas percepções, criadores incipientes. A ideia central é: para um estímulo ou conjunto de dados X, a aplicação de um procedimento algorítmico Y levará a resultados que refletem tanto a lógica programada como a visão do programador, do artista, do cientista ou da IA.
Foi assim que regras matemáticas originaram padrões geométricos na arte islâmica.4 Regras da perspectiva possibilitaram obras como A última ceia,5 de Leonardo da Vinci. E, hoje, algoritmos de aprendizado de máquina – combinando codificação preditiva, reconhecimento de padrões e refinamento iterativo – simulam parte dos processos do cérebro humano ao criar arte e ciência.
Ferramentas como DALL·E transformam textos em imagens, automaticamente; Runway, em vídeos; o AlphaFold 2 prediz estruturas de proteínas;6 o Mind-to-Image combina a ressonância magnética funcional (fMRI) com inteligência artificial para transformar a imaginação humana em arte visual.7 Outros sistemas conseguem expressar tudo o que pode ser formalizado em regras.
O que é tácito, intuitivo e difícil de verbalizar não pode ser algorítmico.8
Quem são os artistas?
Durante minha formação em jornalismo, percebi que pensava por meio de imagens. Nos anos 1980, comecei a experimentar com o Super-8, mas logo encontrei limitações técnicas. O filme que rodava na minha cabeça não rodava na minha câmera. Deduzi que me faltava domínio técnico. Eu precisava estudar cinema, assistir e fazer filmes; estudar maneiras de ver, estudar arte, estudar como funciona a interface humana, o nosso sistema nervoso central.
Durante a pesquisa, observei que as pinturas de Piet Mondrian se constituíam de regras algorítmicas; quando arranjadas em ordem cronológica, sucediam-se logicamente. Foi uma descoberta! Não havia internet, nem celular. A pesquisa ocorria na biblioteca da universidade, e, como penso por imagens, decidi que a melhor maneira de estudar o “algoritmo Mondrian” era retirar os livros da biblioteca, fotografar as obras, revelar os slides, projetar as imagens, descobrir a lógica, operar engenharia reversa e revelar seu código.
Funcionou! Comecei a investigar a arquitetura lógica e a gramática construtiva das imagens e considerei a possibilidade de animá-las, mas imediatamente reconsiderei. Um filme analógico, realizado em formato Super-8, não satisfaria as condições necessárias ao experimento. Com esse equipamento e em película, as linhas retas de Mondrian não seriam tão retas quanto ele havia imaginado. Ou seja, para essa tarefa, era preciso utilizar outro meio.
Em 1895, ninguém se perguntava se o cinematógrafo poderia evoluir e se autorreproduzir. Essa perspectiva da IA, somada à arte, levanta uma questão maior: o que acontece quando as ferramentas que usamos para criar arte passam a pensar, responder e até colaborar?
Em 1984, programei, usando linguagem BASIC,9 em um computador PC XT, algumas pinturas de Mondrian e as animei como keyframes, seguindo a ordem cronológica dos trabalhos.10 O resultado foi extraordinário! Pela primeira vez, o filme exibido na tela do computador correspondia ao filme exibido em minha mente.
Esses experimentos me levaram ao doutorado no DESSI MIRAlab, na Universidade de Genebra, onde equipes multidisciplinares desenvolviam filmes em computação gráfica e aplicativos na área da simulação. Duas disciplinas fundamentais eram Lógica e Linguagem de Programação LISP,11 historicamente centrais para desenvolvimento em IA e para programar senso comum.
O exercício de estudar formas de construir máquinas inteligentes me levou a investigar o que é inteligência humana, como ela funciona, a pesquisar e aprender mais sobre nós mesmos.
Humanos
A neurologia, o estudo daquilo que o sistema nervoso faz,12 é, provavelmente, a melhor ferramenta científica para estudar como nós funcionamos. O sistema nervoso está envolvido em tudo o que nos acontece, do nascimento à morte. Atos simples, como escovar os dentes ou ler este texto, até momentos de transcendência, saltos, gritos ou ideias brilhantes, passam pelo cérebro, pela medula espinhal e suas conexões com o corpo. E os processamentos bidirecionais, retornos do corpo à medula espinhal e ao cérebro orquestram tudo. Tudo, em última análise, se resume a sentir, perceber, emocionar-se, pensar e agir.
O universo é um computador quântico, assumindo o incrível modelo de Seth Lloyd: “A vida biológica tem tudo a ver com extrair informações significativas de um mar de bits. […] A vida humana está se expandindo em relação ao que sempre foi – um exercício de aprendizado de máquina”.13
O sistema nervoso sente os eventos físicos do ambiente por meio de receptores distribuídos pelo corpo. Olhos, ouvidos, nariz, boca e pele captam ondas sonoras, fótons de luz e substâncias químicas, e convertem esses elementos físicos em sinais que o cérebro pode interpretar. Esses sinais dão origem à percepção, que envolve atenção. Você só se dá conta, por exemplo, da sensação dos seus dedos tocando este texto (ou teclado) quando é convidado a prestar atenção.
Emoções e sentimentos agem como orientadores – algo próximo do conceito de “juízos perceptivos”14 discutido por Charles Sanders Peirce. Eles avaliam o que percebemos e, com base no que já conhecemos ou lembramos de experiências passadas, ajudam a formular pensamentos que serão expressos em ações.
À exceção da retina,15 o cérebro humano está fechado na caixa craniana e não acessa o universo diretamente. Para interagir com perfumes, sabores, luz, sombras, sons, o calor do sol, toques, interpreta sinais elétricos e químicos e constrói uma realidade virtual interna.
O cérebro é uma máquina de abstrações. Sua linguagem é abstrata. Ele extrai e codifica informações significativas de oceanos de ondas sonoras, fótons de luz e substâncias químicas e cria alucinações que nos permitem navegar espaços, tempos e compartilhar significados. É claro que existem regras básicas que aprendemos – objetos caem para baixo, e não para cima –, mas outras regras são mais sutis. O que significa esforço, intenção, beleza, justiça, amor?
O cérebro não sabe exatamente o que está vendo; ele adivinha, deduz.16 É complexo, porque as abstrações que cada um constrói podem coincidir com as de outra pessoa – algo que, muitas vezes, parece quase um milagre.
Nossa interface não é confiável, é limitada. A realidade física precisa ser explorada, experimentada. Para isso, desenvolvemos arte, ciência, culturas, entre outras ferramentas que nos possibilitam entender quem somos, como operamos e, para além dos nossos sentidos, permitem expandir nossa interação com o universo, de alguma forma.
Máquinas
A inteligência humana está ancorada em cérebros biológicos. A inteligência artificial reside em cérebros artificiais. Toda IA interessante que acessamos hoje, ou com a qual interagimos, funciona assim: cérebros digitais operando em computadores gigantes. Esse é o modelo atual. Existem variações na arquitetura de hardware e de software, mas a história instrui que a evolução das tecnologias aponta para o desenvolvimento de máquinas inteligentes que aprenderão como nós e os animais. Sem necessidade de programação ou supervisão externa, essas máquinas poderão perceber, raciocinar, planejar e agir impulsionadas por objetivos próprios. Não é difícil imaginar que, no futuro, cheguemos à AGI – a inteligência geral artificial –, com máquinas que ensinaremos ou que aprenderão sozinhas a ser artistas, performers, ou a realizar qualquer tarefa considerada exclusiva dos seres humanos.
Quem é o autor? Humanos? IA? Isso importa?
Em 1967, no icônico ensaio “A morte do autor”, o filósofo Roland Barthes argumenta que o autor de um texto escrito se torna irrelevante para a forma como o texto será lido e interpretado: “[…] o escritor moderno (scriptor) nasce simultaneamente com seu texto; […] não há outro tempo além daquele do enunciado, e todo texto é eternamente escrito aqui e agora”.17
Barthes questionava a crítica literária tradicional, que privilegiava a biografia do autor em detrimento do significado da obra, defendendo que o texto possui vida própria, independentemente de quem o escreve:
“Sabemos que um texto […] é um espaço de muitas dimensões, no qual se combinam e se confrontam diversos tipos de escrita, nenhum dos quais é original: o texto é um tecido de citações, resultante das mil fontes da cultura. […] o escritor só pode imitar um gesto eternamente anterior, nunca original; seu único poder é combinar os diferentes tipos de escrita, opor alguns a outros, de modo a nunca se sustentar apenas por um deles; se ele quiser se expressar, ao menos deveria saber que a ‘coisa’ interna que ele declara ‘traduzir’ é, por si só, apenas um dicionário preexistente cujas palavras só podem ser explicadas (definidas) por outras palavras, e assim por diante, ad infinitum […]”.
:O!!
“Sucedendo ao Autor, o escritor já não carrega em si paixões, humores, sentimentos, impressões, mas sim aquele enorme dicionário, do qual ele deriva uma escrita que não conhece fim nem pausa: a vida só pode imitar o livro, e o próprio livro é apenas um tecido de signos, uma imitação perdida, infinitamente remota.”
Barthes poderia ter previsto o que estamos vivendo agora? Ao trocar “dicionário preexistente” por “banco de dados” e “escritor” por “ChatGPT”, eu arrepiei:
“Sucedendo ao Autor, o [ChatGPT] já não carrega em si paixões, humores, sentimentos, impressões, mas sim aquele enorme [banco de dados], do qual ele deriva uma escrita que não conhece fim nem pausa: a vida só pode imitar o livro, e o próprio livro é apenas um tecido de signos, uma imitação perdida, infinitamente remota”.
Barthes não teve essa ideia sozinho. Em 190518 e 1916,19 Albert Einstein demonstrou que o referencial do observador é fundamental para descrever os fenômenos físicos. De forma complementar, Marcel Duchamp aplica essa compreensão ao propor, em “The creative act” (1957),20 que o espectador cocria o significado da obra de arte através da interpretação. E, na sequência, Werner Heisenberg, em Physics and Philosophy (1958),21 estabelece que, na mecânica quântica, o ato de observação interfere no fenômeno, tornando o observador parte integrante da realidade física.
De diversas áreas do conhecimento, esses e muitos outros autores contribuíram para a formulação da ideia-chave que o ensaio “A morte do autor” representa: na arte, na ciência, na realidade física, o observador importa!
Leitor, espectador, interator – todos são agentes. A arte não é sobre o artista, nem sobre a obra, mas sobre viver uma experiência sensível e reflexiva do mundo. É um modo de perceber, expressar e interagir com a realidade. A arte é uma dimensão do ser que envolve percepção humana, processamento cognitivo e mediação tecnológica, uma lente pela qual damos forma e sentido à existência.
Entre o bem, o mal e o feio!
A arte produzida por ou com a ajuda de ias está cada vez mais presente no cenário cultural e, apesar de controvérsias, frequentemente supera expectativas.
No primeiro leilão online dedicado à arte IA na Christie’s – o Augmented Intelligence22 –, 82% dos lotes foram arrematados, movimentando $ 728.784 entre 20 de fevereiro e 5 de março de 2025. Dos licitantes, 48% eram Millennials ou da Geração Z, e 37% estavam estreando como colecionadores na casa de leilões.
Entre as obras leiloadas estavam criações de pioneiros da arte algorítmica,23 que remontam a 1966. Machine Hallucinations, de Refik Anadol, liderou vendas e polêmicas, alcançando $ 277.200. Em reação, cerca de 6.500 artistas assinaram uma carta a favor do cancelamento do leilão, alegando que os modelos de IA foram treinados com obras protegidas por direitos autorais, sem autorização. A Christie’s alegou que IA é uma ferramenta de aprimoramento criativo, e não um substituto para a arte humana.24
Pode uma máquina fazer arte? A discussão está longe de se encerrar. Artistas, críticos de arte25 e muitos profissionais de diversas áreas temem que a inteligência artificial possa, em última instância, substituir os humanos.
A resposta depende dos critérios adotados para definir o que é arte. Se a arte é definida por critérios como habilidade, proficiência técnica, capacidade de evocar emoções, de manipular códigos e de operar linguagens, as obras geradas por IA já atendem e, às vezes, excedem esses parâmetros. Isso força uma reavaliação das definições estabelecidas sobre o que constitui arte, provocando uma mudança da questão um tanto simplista “Uma máquina pode fazer arte?” para perguntas mais relevantes: O que significa para a arte ser feita por, ou em colaboração com, uma máquina? E como nós, humanos, atribuímos valor e significado a essas criações?
Como arte, algoritmos e artistas se relacionam?
A IA é, sem dúvida, fundamentalmente diferente das tecnologias revolucionárias que nós já criamos. Em 1895, ninguém se perguntava se o cinematógrafo e a máquina a vapor seriam capazes de evoluir e se autorreproduzir com o tempo. Essa perspectiva da IA, somada à arte, levanta uma questão maior: O que acontece quando as ferramentas que usamos para criar arte passam a pensar, responder e até colaborar?
Estamos, ainda, em um período de experimentação, aprendendo a interagir com as IAs. É um momento histórico em que recorremos às IAs para nos ajudar a desenvolver versões ainda mais avançadas delas mesmas – buscando, quem sabe, chegar às AGIs, capazes de nos ajudar a compreender o universo e a viver mais e melhor.
AGIs ainda não existem, mas a ideia nos possibilita prever o dramático, vasto, incrível, quase fantástico impacto em todas as áreas da atividade humana. E, naturalmente, a perspectiva de um mundo coabitado por máquinas tão ou mais inteligentes que nós nos induz a perguntar: Como essas tecnologias podem afetar nossas percepções da realidade?26, Como a IA pode contribuir para a criação de mundos virtuais?27, Como serão esses mundos?; Nós vamos ficar bem?; Tudo ficará bem?, Qual o potencial positivo da AGI?, Quais as possibilidades preocupantes da AGI?, Aonde tudo isso nos levará?
Um experimento mental interessante é imaginar todos nós, humanos, expressando – via prompt, áudio, vídeo, TikTok, YouTube – o que desejamos que o mundo seja. E pensar em uma IA capaz de operar com valores fundamentais para a humanidade e o universo, de forma ética e inclusiva, um grande banco de dados de mundos ideais. O que aconteceria se, sempre que precisássemos tomar uma decisão que afete o coletivo, pudéssemos simular, com a ajuda dessa IA, qual caminho seguir? Seria ficção científica digna de Isaac Asimov? Talvez!
NOTAS
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_e_Louis_Lumi%C3%A8re
- https://www.institut-lumiere.org/les-films-lumiere
- Lutz, J.; Ziegler, P. (eds.). Peter Weibel: art as an act of cognition. Cambridge, MA: MIT Press, 2024.
- Department of Islamic Art. Geometric patterns in Islamic art. In: The Metropolitan Museum of Art. Heilbrunn timeline of art history. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. Disponível em: http://www.metmuseum.org/toah/hd/geom/hd_geom.htm (October 2001). Acesso em: 1 jun. 2025.
- Nathan, J.; Zöllner, F. Leonardo da Vinci: the complete paintings and drawings. Cologne: Taschen, 2015.
- https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaFold
- https://obvious-art.com/research/ e Caselles-Dupré, H. et al. Mind-to-Image: projecting visual mental imagination of the brain from fMRI. 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2404.05468. Acesso em: 2 jun. 2025.
- The Molecule Minded. Paradox 11: The power we can’t explain – unraveling Polanyi’s paradox. Medium (blog), Apr. 30, 2025. Disponível em: https://medium.com/@themoleculeminded/paradox-11-the-power-we-cant-explain-unraveling-polanyi-s-paradox-3c0a3abc3e97. Acesso em: 1 jun. 2025.
- BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) é uma linguagem de programação criada em 1964, com fins didáticos.
- Ver também: https://rhizome.org/editorial/2009/jul/23/serie-mondrian-1980-herbert-w-franke/ e https://median.newmediacaucus.org/routing-mondrian-the-a-michael-noll-experiment/.
- LISP (List Processing) é uma família de linguagens de programação de alto nível, historicamente central para pesquisa em IA e da computação simbólica. A linguagem foi desenvolvida por John McCarthy, em 1958.
- Huberman, A. Essentials: how your nervous system works & changes. Huberman Lab (podcast). Disponível em: https://www.hubermanlab.com/episode/essentials-how-your-nervous-system-works-changes. Acesso em: 31 maio 2025.
- Tradução livre de Lloyd, S. Quantum computer reality. Seminar presentation, Long Now Foundation, Ago. 9, 2016. Disponível em: http://longnow.org/seminars/02016/aug/09/quantum-computer-reality/. Acesso em: 1 jun. 2025.
- Peirce, C. S. Collected papers of Charles Sanders Peirce, vols. 1-6. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-1958. p. 73.
- Existe uma exceção notável: a retina neural, literalmente parte do cérebro, mas localizada fora do crânio, foi “empurrada” para fora durante o desenvolvimento embrionário com um propósito: detectar eventos luminosos. Mais que formar imagens, ela regula quando o cérebro deve estar alerta ou descansar, baseando-se na luz ambiente.
- A lente do olho inverte e espelha a imagem do que vê. Quando lemos este texto, por exemplo, o que chega à retina é uma imagem de cabeça para baixo e invertida. O cérebro, então, reconstrói essa imagem de forma que faça sentido. Isso mostra como o cérebro é uma máquina de abstração, tentando adivinhar o que há lá fora.
- Barthes, R. The death of the author. Aspen, n. 5-6 (1967). Disponível em: https://web.archive.org/web/20200419132326/http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html#barthes. Acesso em: 31 maio 2025.
- Einstein, A. Zur Elektrodynamik bewegter Korper (On the electrodynamics of moving bodies). (1905). Annalen der Physik, n. 17, p. 891-921. Disponível em: https://doi.org/10.1002/andp.19053221004. Acesso em: 15 julho 2025.
- Einstein, A. The foundation of the general theory of relativity. (1916). Annalen der Physik, n. 49, p. 769-822. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/andp.19163540702. Acesso em: 15 julho 2025.
- Duchamp, M. The creative act. Art News, v. 56, n. 4, p. 28-29, 1957.
- Heisenberg, W. Physics and Philosophy: the revolution in modern science. New York: Harper & Row, 1958.
- https://onlineonly.christies.com/s/augmented-intelligence/lots/3837
- https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_art
- https://www.artnews.com/art-news/news/artists-demand-christies-cancels-ai-art-sale-claiming-ai-models-exploit-humans-1234732217/
- https://x.com/jerrysaltz/status/1725277103946379384
- Em frequentes discussões no LinkedIn, Eduardo Saron propõe o “Direito à Realidade” como novo direito humano essencial para proteger a sociedade da manipulação de informações pelas IAs. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/import%C3%A2ncia-do-direito-%C3%A0-realidade-como-parte-central-eduardo-saron-rjs5e/. Acesso em: 31 maio 2025.
- A IA complica drasticamente a noção de autoria. Quando uma obra de arte é gerada por uma IA, quem é o autor? É a própria IA? Os programadores que projetaram a IA? O artista ou usuário que elaborou o prompt que guiou a IA? Ou é, em certo sentido, o vasto coletivo de artistas cujas obras formaram os dados de treinamento para a IA? Essa ambiguidade levou ao surgimento do conceito de “autoria distribuída”. Ver Goodfellow, P. The distributed authorship of art in the age of AI. Arts, v. 13, n. 5, p. 149, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.3390/arts13050149. Acesso em: 1 jun. 2025.