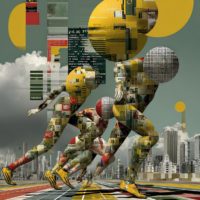RAIO X
Instituto Ayrton Senna
- O que é: Organização sem fins lucrativos que trabalha para aprimorar a qualidade da educação pública em todo o Brasil.
- Público-alvo: Alunos da educação básica e professores de escolas públicas em todo o país.
- Foco de atuação: Pesquisa, desenvolvimento de programas educacionais e influência de políticas públicas, com foco em educação integral.
- Início das atividades: 1994.
- Impacto até agora: Esteve presente em mais de 3 mil municípios com 39 milhões de atendimentos a estudantes e 750 mil formações de professores.
O Brasil enfrenta desafios históricos na alfabetização e aprendizagem, refletidos em problemas como repetência, desmotivação e abandono escolar. Segundo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2020, 34% dos alunos de 15 anos no Brasil haviam repetido de série ao menos uma vez – percentual muito superior à média dos países desenvolvidos. Criado há 31 anos, é nesse cenário que o Instituto Ayrton Senna (IAS) atua com programas educacionais voltados para a redução da defasagem escolar.
O primeiro deles, o Acelera Brasil, surgiu em 1997. Com o objetivo de tentar reduzir o problema de alunos estarem em anos escolares abaixo do indicado para sua faixa etária – a distorção idade-série, associada a reprovações e ao abandono escolar –, a iniciativa já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes brasileiros. Foi ao longo da implementação do programa, que acabou sendo incorporado como política pública em diversos estados, que a equipe de educação do Instituto diagnosticou um ponto nevrálgico para o atraso escolar dos estudantes: a alfabetização. Para abordar essa lacuna, foi concebido um segundo projeto, o Se Liga. Não demorou para que, ao longo do percurso, uma outra barreira fosse identificada – as dificuldades emocionais dos jovens.
À primeira vista, especialmente para quem tem uma visão mais tradicional de educação, as questões emocionais dos alunos podem parecer secundárias diante do desenvolvimento de habilidades cognitivas, como leitura e raciocínio lógico, ou da simples transmissão de conteúdos. A ciência mais recente, no entanto, mostra que a aprendizagem vai além do processo cognitivo: funções como atenção, concentração e memória – fundamentais para aprender – são profundamente influenciadas pelo bem-estar emocional. Os dados reforçam essa conexão. Um mapeamento do IAS, realizado em 2021 com escolas do estado de São Paulo, revelou que 69% dos estudantes apresentavam dificuldades de atenção e concentração, 21% se envolveram em brigas e 13% relataram episódios de bullying – muitos deles relacionados à sua aparência.
Esses sinais, no entanto, raramente são associados à qualidade da aprendizagem. Pior: na escola e em casa, costumam ser interpretados como desinteresse ou indisciplina. Ou seja, dificuldades emocionais ainda não são amplamente reconhecidas como um componente do desempenho educacional. No entanto, evidências indicam que comprometem funções cognitivas essenciais à aprendizagem, como atenção, memória e motivação. Essas dificuldades manifestam-se, em geral, por meio de irritabilidade, choro recorrente, distúrbios do sono e do apetite, retraimento social e baixa autoestima.
As dificuldades emocionais dos estudantes atravessam o contexto educacional e se entrelaçam a fatores sociais e às dinâmicas familiares, influenciando diretamente o processo de aprendizagem. Inês Kisil Miskalo, diretora de educação do Instituto Ayrton Senna, usa a analogia de círculos concêntricos para explicar essa inter-relação. “O processo educacional envolve a princípio duas pessoas, um professor e o aluno, e se amplia por uma rede que compreende, no âmbito escolar, gestores e coordenação pedagógica. Essa rede se estende, ainda, para as famílias e a sociedade. É como se você jogasse várias pedrinhas num lago. Elas vão se abrindo em círculos, do centro para fora, e se mesclando.”
O IAS tem reunido dados da experiência escolar e evidências produzidas no campo das ciências cognitivas e emocionais. A intenção é aprofundar o conhecimento científico sobre o impacto do desenvolvimento socioemocional na aprendizagem e, a partir disso, orientar intervenções baseadas em evidências. Para sistematizar essa produção, o Instituto criou em 2015 o eduLab21 – seu braço de pesquisa científica.
As lacunas identificadas em habilidades como autoestima, interação social e regulação emocional e comportamental serviram de base para a formulação de um construto denominado macrocompetências socioemocionais (ver quadro “Da teoria à prática”). Em dez anos, o eduLab21 tem intercruzado dados empíricos da realidade escolar e conhecimentos científicos que apontam para um norte em comum: a necessidade de uma política pública que aborde a educação de forma integral. A proposta da organização é integrar o ensino de habilidades cognitivas – como leitura e cálculo – e a transmissão de conteúdos ao desenvolvimento das chamadas competências socioemocionais, de forma articulada e complementar.
A proposta se fundamenta em evidências empíricas robustas, reunidas ao longo de anos de observação e aplicação em contextos escolares. Um dos primeiros projetos piloto com foco em competências socioemocionais conduzido pelo IAS foi realizado em 2013, no Colégio Estadual Chico Anysio, da rede pública municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa propôs a criação de espaços voltados ao desenvolvimento de projetos de pesquisa baseados na observação e problematização de situações cotidianas.
O processo educacional envolve a princípio duas pessoas, um professor e o aluno, e se amplia por uma rede que compreende gestores, coordenação pedagógica, famílias e a sociedade
Em uma das experiências, por exemplo, estudantes identificaram o desperdício de alimentos na escola e buscaram, em conjunto, soluções para melhorar a gestão da merenda. Paralelamente, educadores passaram a trabalhar com os alunos a construção de seus projetos de vida. As iniciativas foram acompanhadas por ganhos de aprendizagem que superaram em 50% os resultados de escolas com perfil semelhante na rede estadual.
A articulação entre prática educacional e produção científica levou ao desenvolvimento do Senna, instrumento de avaliação das competências socioemocionais criado pelo Instituto Ayrton Senna. Testado inicialmente em uma amostra piloto de 25 mil estudantes da rede estadual do Rio de Janeiro, o Senna permitiu identificar correlações entre ambiente familiar, contexto escolar e características socioemocionais dos alunos. Os resultados demonstraram que intervenções voltadas à educação integral promovem avanços mensuráveis em curto prazo – como maior organização e senso de responsabilidade – e têm potencial de impactar positivamente trajetórias de longo prazo, contribuindo para a redução do abandono escolar e das desigualdades sociais. “O Diálogos Socioemocionais é uma solução que foi sendo construída a partir das experiências com as redes de ensino e do que a pesquisa nos dizia”, explica Miskalo.
As experiências e evidências reunidas tiveram influência direta na formulação de política pública. O trabalho do IAS foi decisivo nas discussões que culminaram na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – documento oficial que orienta a elaboração dos currículos escolares em todo o Brasil, tanto na rede pública como na privada. A BNCC foi aprovada em 2017 para a educação infantil e o ensino fundamental, e, em 2018, para o ensino médio. A Competência Geral 10 da BNCC, por exemplo, estabelece como objetivo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em todos os níveis da educação básica. Essa diretriz está alinhada aos cinco macrocampos de competências sistematizados pelas pesquisas do Instituto Ayrton Senna (ver quadro). Com isso, o ensino de habilidades socioemocionais passou a ser reconhecido oficialmente como parte integrante da política pública educacional no Brasil.
Nesse ponto, surge um importante desafio: a escalabilidade da educação integral. É complexo implantar uma política pública em um país com a dimensão do Brasil e com realidades territoriais tão distintas. “Esse é talvez o maior desafio na hora de desenhar e sistematizar um programa. É, aliás, um desafio que se aplica a políticas públicas de forma geral: estabelecer uma norma aplicável a realidades de cada lugar”, diz Miskalo. “Não é fácil pegar uma pesquisa, um projeto piloto, e transformar em algo que possa ser traduzido para uma prática em sala de aula, de forma sistematizada. É preciso pensar em como alinhar, em como articular uma linha curricular e em como executá-la, considerando variáveis. Trabalhar nesse sentido é um desafio, por si só.”
Mesmo dentro de uma mesma rede de ensino, coexistem realidades muito distintas – há escolas que avançam mais rapidamente, enquanto outras enfrentam retrocessos. E, dentro de cada escola, o cenário também varia: turmas em diferentes estágios de aprendizagem. Além disso, há a diversidade dos recursos humanos envolvidos, desde profissionais das regionais e diretorias até as equipes das secretarias de educação. “Trabalhar a educação na ponta é lidar com múltiplos atores e com uma mudança que é, antes de tudo, cultural. E cultura é aquilo que já está instalado na mente, no coração e no fazer das pessoas”, argumenta Miskalo. “Precisamos ter uma estrutura, uma espécie de espinha dorsal da proposta, que seja sólida, mas ao mesmo tempo flexível o suficiente para se adaptar e atender às diferentes realidades e públicos com os quais trabalhamos.”
AONDE QUEREMOS CHEGAR?
Falar de educação é, na prática, falar de várias educações. Existem múltiplas realidades que exigem adaptações quando o assunto é política pública. A experiência acumulada mostra que levar uma solução educacional para dentro de uma rede de ensino envolve mais do que apenas implantar um programa. É preciso entender profundamente como se dá a implementação e, mais do que isso, como se conduz a execução no cotidiano escolar. Miskalo explica que essa mudança de perspectiva é radical. Quando se sai da lógica de apenas conteúdos acadêmicos e se passa a organizar, explicitar e intencionar aquilo que o professor já faz intuitivamente na relação com o aluno, um novo universo se abre. “Você fala com o professor, e ele responde: ‘Mas isso eu já faço’, ‘Se meu aluno está triste, eu pergunto o que aconteceu’, ‘Eu já me interesso por ele, já proponho atividades em grupo’”, relata.
A diferença, no entanto, está na sistematização. O que antes ocorria de forma pontual e reativa – muitas vezes como resposta a uma demanda específica do aluno – agora precisa ganhar intencionalidade. O desenvolvimento socioemocional, para ser efetivo, não pode depender só da sensibilidade individual de cada educador. É preciso que seja estruturado, propositivo e integrado ao planejamento pedagógico de maneira contínua. Essa transformação, contudo, não se impõe por decreto. Ela nasce da escuta ativa, do diálogo com as redes de ensino e da vivência no chão da escola, respeitando as singularidades de cada território. É nesse movimento coletivo que se constrói uma política pública capaz de gerar resultados sustentáveis e, mais do que isso, de consolidar mudanças institucionais.
Somente quando práticas, valores e objetivos são incorporados de forma transversal pelas redes de ensino, da gestão à sala de aula, é possível afirmar que uma política educacional foi verdadeiramente interiorizada. “Chega um momento em que você pode dizer: ‘Isso foi, de fato, institucionalizado, e temos resultados para mostrar que funcionou’. Porque não basta gerar evidências científicas; é preciso que essas evidências se transformem em vivência, em prática concreta dentro das redes”, afirma Miskalo.
Um exemplo vem de Cuiabá. Desde 2024, a Escola Estadual Professora Hermelinda de Figueiredo integra o projeto Diálogos Socioemocionais, do Instituto Ayrton Senna. Para a coordenadora pedagógica Cleide Minervino, a iniciativa chegou como uma forma de potencializar práticas já existentes. “Os professores sempre trabalharam com as competências socioemocionais, mas de maneira não intencional, diluídas na convivência cotidiana”, conta.
A chegada do projeto trouxe estrutura e intencionalidade. Com base em um programa de leitura já em andamento, a equipe pedagógica passou a selecionar obras literárias alinhadas às competências e a incluí-las no planejamento bimestral das disciplinas. “Hoje, cada componente curricular contempla uma competência de forma planejada”, diz Minervino.
As mudanças são graduais, mas perceptíveis. “É um trabalho de formiguinha. Todos os dias retomamos o tema. Os alunos vêm de contextos e culturas diferentes, então as transformações não acontecem da noite para o dia. Mas elas acontecem. Não é conto de fadas, é insistência.”
A escola também pretende envolver os estudantes de forma mais ativa. Um plano de ação será construído com o grêmio estudantil, com o objetivo de torná-los protagonistas na promoção das competências socioemocionais. “Queremos que deixem de ser apenas receptores e passem a disseminar esses valores entre os colegas.”
Hoje, o projeto está presente em todas as disciplinas – de matemática à educação física – e já integra os materiais didáticos usados pelos professores. “As competências estão ali, junto das habilidades cognitivas, o que facilita a aplicação. Quando identificamos uma necessidade específica de uma turma, os professores se articulam em projetos integradores com outras áreas. A proposta é pensar em conjunto e agir de forma coordenada”, explica a coordenadora.
Miskalo destaca que, para sustentar transformações como essa, é necessário mais do que relatos inspiradores. “É preciso ter dados que mostrem que a mudança foi real, mensurável.” Para ela, a institucionalização de políticas passa por ciclos semelhantes à boa gestão: identificar o problema, entender suas causas, definir o que precisa ser transformado e construir uma teoria da mudança clara. “Depois disso, é desenhar um plano de ação viável, com pessoas capacitadas, materiais adequados e recursos disponíveis. E, na hora da implementação, checar se tudo está realmente funcionando como planejado.”
CORREÇÕES NO PERCURSO
É no cruzamento entre desenho técnico e escuta ativa do cotidiano escolar que nasce a possibilidade de mudanças duradouras. A política pública tem o objetivo final de gerar transformação concreta (e sustentável) no território.
Miskalo destaca que faz parte da implantação de uma política verificar se as ações estão funcionando desde o início e, se necessário, fazer ajustes durante o percurso. “Senão, eu chego ao final e encontro problemas que poderiam ter sido resolvidos lá no começo”, afirma. O monitoramento contínuo permite a criação de novos diagnósticos. A essa altura, o cenário já mudou: não se trata mais do ponto de partida, mas de um novo patamar, mais avançado. “É como se fizéssemos círculos espiralados, em que a cada volta aumentamos a complexidade e o alcance da ação.” A partir desse novo olhar, é possível atuar sobre pontos frágeis, reformulando ações em andamento. É a metáfora de trocar o pneu com o carro andando.
Para isso, flexibilidade é fundamental. A ideia original raramente se concretiza exatamente como no papel. “O plano de ideias é uma coisa, mas quando você vai para a ação, encontra outras realidades.” Essa abordagem vem sendo adotada pelo Instituto Ayrton Senna desde 1997, com o lançamento do programa Acelera. Desde então, a instituição tem se dedicado a desenvolver monitoramentos robustos e a formar profissionais nas redes públicas de ensino.
Nada disso acontece no vácuo: é preciso respeitar as diretrizes legais. “Temos que nos basear no que a lei prevê para a educação. Quais são as regras do jogo?” A resposta está na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 – que organiza tanto o ensino fundamental como o médio – e na Base Nacional Comum Curricular, que consolidou as diretrizes do que se deve ensinar em cada etapa da educação básica.
“Quem executa a política não é o instituto, é a rede”, resume Miskalo. A gestão se distribui em múltiplas camadas – da sala de aula à rotina escolar, passando pela formulação da política pública. O grande desafio está em transformar aquilo que é desenhado nos planos em prática viva, capaz de gerar aprendizado e ajustes contínuos ao longo do tempo.
Da teoria à prática
Como as competências socioemocionais são pesquisadas e aplicadas nas escolas
Quando um aluno é capaz de manter o foco, perseverar diante de desafios e gerenciar seu próprio processo de aprendizagem, suas chances de alcançar bons resultados na escola aumentam significativamente. Além disso, se ele desenvolve autoconfiança e habilidades de comunicação, constrói um conjunto de competências fundamentais – não apenas para o desempenho escolar, mas para sua trajetória pessoal e profissional.
Essas habilidades podem não ser percebidas à primeira vista, mas fazem toda a diferença. Estudos mostram que filhos de pais com competências socioemocionais bem desenvolvidas têm maior probabilidade de concluir o ensino médio, cuidar melhor de si e evitar situações de risco. Esses alunos costumam ser mais assíduos na escola, participativos e comprometidos com sua trajetória, não apenas por exigência externa, mas por uma postura ativa diante da aprendizagem.
No Instituto Ayrton Senna, o desenvolvimento socioemocional dos estudantes é estruturado em cinco macrocompetências: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, abertura ao novo e resiliência emocional. Cada uma delas se desdobra em 17 competências no total, que orientam a avaliação e o fortalecimento do desenvolvimento integral dos alunos em diferentes contextos educacionais.
Essa organização é resultado direto da interação constante entre pesquisa e prática. “Um dos nossos papéis é traduzir o conhecimento acadêmico em produtos úteis, como vídeos, jornadas formativas e outros materiais que apoiem educadores e gestores no cotidiano”, explica Karen Teixeira, gerente de pesquisa do eduLab21, do Instituto. Tornar o conhecimento acessível e aplicável é essencial para que ele de fato chegue à sala de aula e contribua para a transformação das práticas pedagógicas.
A escuta ativa das redes de ensino é o núcleo desse processo. A partir do contato direto com educadores e gestores, é possível identificar lacunas e necessidades que muitas vezes não aparecem apenas nas pesquisas. Com base nessas interações, o IAS desenvolve materiais mais alinhados com os desafios reais do chão da escola.
Um exemplo desse diálogo entre teoria e prática são os grupos focais realizados com professores e gestores. Nessas escutas, a equipe do Instituto avalia se os relatórios e materiais de apoio estão, de fato, contribuindo para a prática pedagógica. “Não basta apresentar os resultados. É preciso que os educadores saibam como utilizá-los”, diz Teixeira. As devolutivas obtidas nesse processo alimentam aprimoramentos contínuos nas soluções educacionais.
Teixeira também destaca uma experiência de escuta com professores de uma rede pública de ensino, que foram convidados a indicar quais competências socioemocionais gostariam de desenvolver com mais apoio institucional. As respostas orientaram a definição de prioridades nas ações formativas, direcionando os esforços para as demandas mais citadas. Um exemplo claro de como a prática pode orientar a pesquisa – e como a pesquisa pode retornar à prática com mais potência.
Essa via de mão dupla entre teoria e prática é essencial para garantir que o desenvolvimento socioemocional dos estudantes aconteça de maneira significativa. “É preciso caminhar junto com a escola e devolver-lhe aquilo que ela ajudou a construir”, resume Karen.
OBSTÁCULO: CONTINUIDADE
O ciclo de uma política pública eficaz começa com o reconhecimento da importância de formar o aluno de maneira integral. O passo seguinte é o planejamento – que envolve a formação de profissionais, o uso de materiais estruturados, o monitoramento contínuo e a avaliação com base em dados concretos sobre a implementação. Mais do que adotar um material ou lançar um projeto pontual, a transformação real exige um trabalho sistemático, processual e de longo prazo. Nesse contexto, a continuidade representa um dos maiores desafios, em especial diante das mudanças frequentes nas gestões locais e regionais. “A gente tem muitas ações pontuais que morrem quando muda o ministro, o secretário, o governo”, registra Miskalo. “Muda o nome, muda o programa e ninguém sabe se vai continuar.”
Levar o desenvolvimento das competências socioemocionais para dentro de uma rede de ensino exige tempo, estrutura e continuidade. É um processo em espiral, de amadurecimento progressivo, no qual a complexidade aumenta a cada etapa. O primeiro passo é demonstrar por que vale a pena construir um referencial curricular que integre essas competências de forma intencional e planejada. Depois, vêm as perguntas práticas: como transformar essa teoria em prática pedagógica? Como planejar uma aula de gramática que também desenvolva habilidades socioemocionais? Como incorporar esse trabalho em um experimento científico, em uma aula de educação física ou em projetos de vida?
Para a diretora, o ponto-chave é entender que o aluno é um só – mas está cercado por diferentes professores, áreas do conhecimento e rotinas escolares. “Pode até haver uma aula específica, mas essas competências têm que permear o cotidiano”, afirma. E, para isso, é fundamental que o estudante estabeleça vínculos de confiança com pelo menos um educador, alguém que lhe ofereça segurança e acolhimento.
Esse processo demanda uma formação sólida de todos os profissionais envolvidos. Não basta preparar apenas o professor da sala de aula: é necessário investir também na capacitação de coordenadores pedagógicos, diretores e equipes técnicas das secretarias. Além disso, é fundamental disponibilizar materiais de apoio, modelos, sequências didáticas e atividades inspiradoras – recursos que contribuam para que os educadores possam construir suas próprias práticas.
Muitas vezes, os educadores reagem com receio: “‘É outro trabalho’, ‘é muito trabalho’, ‘não vou dar conta’”. O desafio, segundo Miskalo, está em mostrar que não é outro trabalho. É o mesmo trabalho, só que com intencionalidade. “Se não houver compreensão, compromisso e apoio durante o fazer, a política não anda. O profissional desanima, a escola não abraça a ideia e o aluno não é atendido”, diz.
O desenvolvimento socioemocional não pode depender só da sensibilidade de cada educador. Precisa ser estruturado, propositivo e integrado ao planejamento pedagógico de maneira contínua
O compromisso com a educação precisa ser coletivo. Não basta a ação pontual de uma secretaria ou de uma liderança isolada: é preciso engajamento tanto dos profissionais da rede como do governo local. Só assim uma política pública deixa de ser uma ação de governo transitória (sujeita à próxima gestão) e se consolida como uma política de Estado. Afinal, ninguém muda a educação em quatro anos. “Educação é processo. Uma criança que entra aos 4 anos na escola e permanece até os 17 está passando por uma trajetória que exige continuidade e propósito. Ao contrário de uma obra de infraestrutura, que pode ser finalizada em um ano e imediatamente exibida, a construção do conhecimento é invisível a curto prazo.”
Não basta garantir merenda, uniforme ou material escolar. Esses são direitos básicos, mas formar o aluno como ser humano exige ir além. É aí que entram os quatro pilares da educação, propostos no Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século 21: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Juntos, eles apontam para uma formação integral, que articula o desenvolvimento intelectual, o emocional, o social e o dos estudantes. Para que essa construção aconteça, o executivo – aqui entendido como governo e secretaria de educação – precisa atuar de forma estruturada e planejada. Mas há um outro vetor igualmente poderoso e, muitas vezes, negligenciado: a demanda que vem da sociedade.
“Famílias, professores e equipes escolares precisam perceber que a política pública faz sentido para eles”, adverte Miskalo. “Quando isso acontece, não apenas aderem, mas passam a demandar, defender e cobrar a continuidade.” Por isso, a formação de professores, o engajamento das famílias e a mobilização das equipes escolares devem ser compreendidos como ações interdependentes, não isoladas. Elas formam uma rede de sustentação que protege os avanços, especialmente em contextos de transição política. Quando os resultados se tornam visíveis no cotidiano, são os próprios alunos, educadores e gestores que passam a defender a continuidade das ações que dão certo.
Nesse contexto, a intersetorialidade se torna essencial. A educação sozinha não pode enfrentar todos os desafios que surgem na escola. Sem a articulação com outras áreas da gestão pública, como saúde, assistência social e cultura, o impacto das políticas educacionais fica restrito. A colaboração entre esses setores amplia o alcance das ações, fortalece o impacto e compartilha responsabilidades.
“O aluno precisa estar na escola, mas também precisa de tempo efetivo de aula, de um professor engajado e de um ambiente, tanto em casa como na escola, que o acolha e acredite nele”, ressalta Miskalo. Ela destaca ainda que, segundo avaliações realizadas pela Fundação Carlos Chagas, os alunos mais destacados são justamente os mais presentes e participativos. “E, para participar, é preciso que haja aula, que haja professor e que o tempo de aprendizagem seja garantido.”
Ou seja, essa engrenagem precisa ser contínua. “Não pode ser algo que acontece e desaparece. Sem continuidade, as pessoas podem se sentir abandonadas e desacreditar no processo.” Mudam os professores, mudam os diretores, mudam os governos. O que precisa permanecer é uma estrutura, com a flexibilidade necessária para se adaptar, mas com a clareza do que é preciso fazer para se chegar aonde se pretende. Sem isso, a transformação não se sustenta. “Estamos desenvolvendo esses ajustes, essa clareza, ao longo dos 30 anos de atuação”, diz Miskalo, desde o Acelera. “O Acelera já é um senhor”, brinca. “Mas um senhor que se reinventou muitas vezes para se adaptar.”
A necessidade de adaptação constante revela uma das contradições do sucesso: idealmente, o fluxo escolar não deveria precisar de correções ou ajustes. Mas a realidade ainda exige intervenções pontuais e contínuas. “Sim, é complexo. É desafiador. Mas também é empolgante”, conclui Miskalo. “Quando se acredita na proposta, quando se vê resultados acontecendo, é impossível não se envolver. E é justamente esse envolvimento profundo que garante que o que foi conquistado não se perca.”