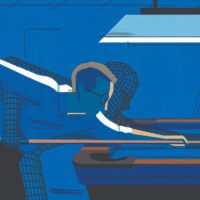Nas últimas décadas, o investimento social privado (ISP) brasileiro tem se consolidado como um campo relevante para impulsionar transformações sociais, mas enfrenta pressões crescentes para repensar suas práticas. Demandas de organizações da sociedade civil (OSCs) e movimentos sociais apontam para a urgência de reconfigurar relações de poder, valorizar saberes diversos e redistribuir recursos de forma mais equitativa.
A decolonização da filantropia ganha centralidade nesse contexto ao propor mudanças estruturais em como o ISP – aqui entendido como sinônimo da filantropia institucionalizada – se relaciona com os sujeitos e territórios que apoia. Essa transformação exige romper barreiras ideológicas, estruturais e relacionais que hoje limitam o alcance transformador da filantropia. Isso implica ampliar o grantmaking e o apoio – não só financeiro – a soluções construídas nos territórios; fortalecer a representatividade das OSCs em espaços de decisão; e criar condições para que comunidades diretamente impactadas participem da definição de prioridades e estratégias.
Um ponto de partida – e também uma barreira – é reconhecer as origens da riqueza da qual derivam os recursos filantrópicos. Como escreveu Edgar Villanueva neste espaço, esses recursos muitas vezes resultam de processos históricos de dominação e exploração de povos indígenas, pessoas negras, mulheres e outros grupos minorizados. Reinvesti-los de forma a reparar desigualdades estruturais é condição para uma atuação verdadeiramente transformadora.
Barreiras à decolonização
Decolonizar os processos filantrópicos implica reconhecer e enfrentar as contradições de um setor cuja existência e estrutura estão ancoradas na desigualdade social e na concentração de riquezas. Exige, igualmente, o reconhecimento da necessidade de mudanças nos focos e nas formas de atuação, assim como no projeto político de sociedade que se pretende construir.
Algumas das barreiras nesse caminho apareceram nos resultados da pesquisa qualitativa Olhares do ISP (2024) – que contou com a participação de 39 organizações associadas ao Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), distribuídas em três grupos focais, e 20 entrevistas em profundidade – e do Censo Gife (2022-2023).
A primeira barreira, que aqui denominamos ideológica, se refere ao projeto político – não político-partidário, mas de sociedade que se idealiza – ainda bastante homogêneo no setor. As agendas prioritárias buscam a inclusão das populações pobres no sistema capitalista por meio da qualificação para o mercado de trabalho, ancorada na lógica meritocrática. Predominam investimentos em educação, inclusão produtiva, empreendedorismo e desenvolvimento comunitário, enquanto agendas voltadas à defesa de direitos, fortalecimento da democracia e combate a desigualdades estruturais recebem menos atenção. Pautas de diversidade, equidade e inclusão são pouco abordadas de forma direta pelas instituições financiadoras.
A segunda barreira diz respeito a como as organizações filantrópicas estão estruturadas: governança composta predominantemente por homens brancos, com atuação concentrada na região Sudeste e foco na execução de projetos próprios. Segundo o Censo Gife, apenas 8% dos recursos são geridos por conselhos paritários em termos de gênero, e somente 17% por conselhos que incluem pessoas negras ou indígenas, o que limita a incorporação de perspectivas críticas e a capacidade do ISP de representar a diversidade social que afirma querer atender.
A terceira barreira é a desconfiança, que afasta financiadores e financiados e limita – ou mesmo impede – a participação das pessoas diretamente impactadas pelos projetos nos processos de tomada de decisão. Essa desconfiança se manifesta por meio do uso de ferramentas de controle: metade das organizações respondentes do Censo Gife apontou a dificuldade de monitorar e avaliar OSCs como um dos principais entraves para apoiá-las.
Essas barreiras se retroalimentam: a homogeneidade ideológica define agendas, molda estruturas de governança e mantém distâncias entre financiadores e beneficiários, perpetuando a desconfiança e limitando a inclusão de vozes e experiências diversas nos processos decisórios.
Oportunidades e práticas emergentes
Romper esse ciclo requer promover pluralidade para além da representação simbólica. Não basta incluir mulheres e pessoas não brancas em conselhos se elas não têm poder real para decidir. Também é preciso cultivar a autocrítica constante, pois nenhuma organização está imune aos sistemas que busca romper, e criar espaços para reflexões e dissensos – como o Congresso Gife, que tem se mostrado um fórum importante para discutir desigualdades e repensar práticas.
O fortalecimento de vínculos com movimentos sociais é igualmente central. Ainda assim, apenas 26% das organizações respondentes do Censo Gife atuam no desenvolvimento institucional de OSCs e movimentos sociais, e só 4% têm essa pauta como prioridade. Para aumentar a confiança, espaços estruturados de diálogo entre filantropia institucionalizada e sociedade civil também são fundamentais. Experiências internacionais, como a conferência da Edge Funders Alliance, mostram caminhos para promover trocas mais plurais e intersetoriais. O próprio Congresso Gife desponta como oportunidade para ampliar esse diálogo no Brasil, sem perder o foco no debate sobre o setor filantrópico.
Algumas práticas emergentes já apontam para transformações possíveis. O repasse de recursos a terceiros e a adoção de metodologias participativas, embora ainda incipientes, podem ampliar o alcance e diversificar beneficiários. A filantropia baseada em confiança reduz exigências burocráticas e dá maior autonomia às OSCs. Segundo o Censo Gife, 59% das organizações apoiam OSCs pela capacidade de articular redes e 57% pela influência em públicos e territórios. Esses dados indicam que grande parte dos financiadores entende que as OSCs são grandes parceiras nos territórios e detêm conhecimento e lideranças criativas que, com recursos, podem lidar com emergências e promover mudanças estruturais.
Fundos independentes, definidos pelo Censo Gife como aqueles que não dependem financeiramente de uma fonte única ou majoritária e cuja governança não está vinculada a uma família ou empresa, têm se destacado como produtores de conhecimento e práticas alinhadas à decolonização da filantropia. Entre eles, entidades com trajetória consolidada, como o Fundo Elas+ e o Fundo Baobá, desenvolvem projetos políticos voltados para a construção de uma sociedade mais plural, capaz de reconhecer as múltiplas realidades dos diferentes grupos sociais e apoiar soluções locais que já se afirmam em potência e criatividade.
Há também fundos criados para enfrentar violações de direitos e promover justiça socioambiental por meio do financiamento de movimentos sociais, ativistas, redes e coletivos. Essas iniciativas contribuem para pluralizar um campo ainda fortemente marcado pela lógica corporativa e podem se tornar aliadas estratégicas de financiadores que enfrentam barreiras para chegar a territórios e atores que, muitas vezes, não possuem registro formal ou CNPJ – e que, por decisão política, preferem não tê-lo. Apesar disso, na pesquisa Olhares do ISP, representantes de organizações financiadoras apontaram a “profissionalização” das entidades apoiadas como uma necessidade. Quando entendida como única via legítima, essa exigência pode acabar despolitizando movimentos que se propõem a atuar de forma não institucionalizada.
Reimaginar o ISP
As OSCs têm desafiado o ISP a atuar de forma mais sistêmica, abordando suas estratégias a partir de uma lente interseccional e decolonial. Isso implica considerar, de maneira integrada, marcadores de classe, raça, gênero, territorialidade e deficiência que atravessam as pessoas tanto dentro como fora das organizações. É fundamental repensar e criar espaços de encontro e troca entre perspectivas diversas – uma pluralidade especialmente necessária em um contexto de retrocessos nas agendas de diversidade. Nesse cenário, as organizações financiadoras enfrentam uma escolha decisiva: revisitar não apenas sua atuação programática, mas também suas práticas internas, políticas e metas de pluralidade, ou seguir reproduzindo padrões excludentes que perpetuam desigualdades históricas.
O ISP brasileiro precisa reconhecer e reparar as origens da riqueza que o sustenta, direcionando recursos para comunidades historicamente marginalizadas. Deve ampliar e flexibilizar o financiamento a OSCs e movimentos sociais, garantindo repasses de longo prazo e com menos entraves burocráticos. É necessário diversificar a governança com critérios claros de representatividade racial, de gênero e territorial, assegurando poder real de decisão, e criar espaços permanentes de diálogo com atores da sociedade civil, com foco na escuta e na construção conjunta de estratégias. Valorizar soluções locais e conhecimentos situados, reconhecendo que a inovação social também nasce nos territórios e fora de estruturas formais, é igualmente imprescindível.
Essa mudança requer revisar imaginários: romper com a lógica colonial de poder e hierarquia de saberes significa ampliar o horizonte de possibilidades e reimaginar o papel da filantropia como promotora de justiça social e redistribuição de poder. Esse é um caminho para que o ISP brasileiro supere suas contradições e contribua de fato para transformar as estruturas que sustentam a desigualdade.