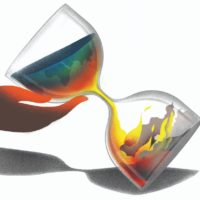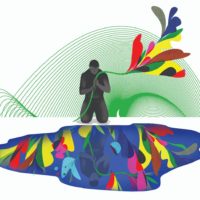As últimas décadas nos colocaram diante de transformações profundas nas relações entre governo, empresas e sociedade civil. Já não é possível sustentar uma visão rígida de papéis e atribuições. As fronteiras estão cada vez mais difusas; ainda assim, as soluções que emergem seguem fragmentadas e, muitas vezes, excludentes. Diante disso, precisamos nos perguntar: como os três setores podem se ajudar mutuamente a superar as mazelas da sociedade que, sozinhos, jamais conseguirão vencer?
Como apontam Mohamed Hassan Awad, Mabel Sanchez e John Parsons em seu artigo, as parcerias intersetoriais possuem alta capacidade de “promover inovação e ações coordenadas exigidas para a solução de problemas sociais” e são “um instrumento eficaz para se chegar a populações marginalizadas, estigmatizadas e com pouco acesso a serviços públicos”. No entanto, ainda é um desafio coordenar múltiplos esforços, agendas e estratégias em favor de objetivos comuns.
Em 2012, o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) realizou o programa Diálogos Sociais, que convidava os três setores a refletirem juntos. Ali já se anunciava a necessidade de um pacto social renovado, em que Estado, mercado e sociedade civil deixassem de disputar responsabilidades e passassem a construir coletivamente respostas para desafios estruturais. Mais de uma década depois, essa urgência permanece – e talvez tenha se agravado – em um cenário de crise climática, desinformação, fragilidade democrática e desigualdades sociais acirradas.
O artigo ecoa essa mesma inquietação: a de que as parcerias intersetoriais, se bem cuidadas, podem ser mais do que projetos – podem ser espaços vivos de reconstrução social. Mas isso exige, como os autores defendem, começar pequeno, pensar no longo prazo e construir confiança. Não por acaso, esse é também o aprendizado que o CIEDS acumula em seus mais de 27 anos de atuação em territórios vulnerabilizados no Brasil.
Ao longo dessas décadas, vimos muitas vezes o Estado confiar às organizações da sociedade civil (OSCs) tarefas estratégicas, empresas criarem institutos que atuam diretamente em causas sociais, e organizações do terceiro setor se reinventarem como fábricas de projetos. Essa diluição de fronteiras não me parece, por si só, um problema. O verdadeiro desafio está em como essas relações se constroem: elas se dão com transparência, escuta e compromisso com o objetivo comum ou em torno de interesses isolados e lógicas competitivas já ultrapassadas?
A proposta de cooperatividade sistêmica, que defendemos no CIEDS, parte de um pressuposto essencial: nenhum setor pode dar conta sozinho dos problemas do país. A transformação social exige o reconhecimento da interdependência, a aceitação da diversidade dos atores e a preservação das autonomias institucionais, com foco na convergência. Isso significa estruturar modelos de relação baseados em confiança, horizontalidade dos processos de gestão e pactos democráticos, não em dominação ou substituição de papéis.
A transformação social, quando pensada a partir da interdependência, exige o abandono de certezas unilaterais. Nenhum setor – por mais bem-intencionado ou capacitado que esteja – é capaz de compreender, sozinho, a complexidade do território e das vidas que nele se desenrolam. Reconhecer a diversidade dos atores não é apenas admitir sua existência formal, mas valorizar suas distintas contribuições de maneira genuína, respeitosa e legítima. Trata-se de abandonar a lógica de “quem lidera” para adotar a lógica de “como nos escutamos”.
Preservar as autonomias institucionais nesse contexto é também uma forma de resistência: frente às assimetrias de poder, imposição de agendas externas e pressão por resultados imediatos, é preciso garantir que cada ator contribua a partir de seu lugar legítimo – e não como extensão funcional de outro. A convergência, portanto, não é homogeneização, mas uma prática contínua de mediação entre diferentes. Essa mediação exige tempo, escuta e acordos que respeitem o dissenso, considerem as possíveis ideologias distintas, ultrapassem as retóricas e abracem a complexidade.
No CIEDS, essa compreensão da convergência como construção contínua se traduz em nosso modo de fazer. Não somos uma ponte neutra entre atores. Somos uma OSC que atua na artesania da confiança, como tradutora de linguagens institucionais, mediadora de sentidos compartilhados e construtora de resultados positivos para as diferentes partes. Desenvolvemos metodologias, tecnologias sociais e modos de escuta que nos permitem sustentar o diálogo e criar soluções, mesmo em momentos de tensão e disputas.
Nos vemos como parte de um ecossistema em transformação, com a responsabilidade de garantir que o protagonismo dos territórios não seja capturado, que os pactos não se esvaziem em tecnicalidades, e que os resultados não sejam apenas entregas, mas transformações vividas, em especial pelas populações historicamente minorizadas e marginalizadas. Acreditamos que é possível, sim, fazer gestão pública e privada com ética, afeto e democracia, e temos testemunhado isso acontecer, dia após dia, nos territórios com os quais nos comprometemos.
Mais do que uma organização executora de projetos, o CIEDS se afirma como um articulador político-pedagógico, capaz de reunir setores distintos em torno de causas comuns, sem apagar suas singularidades. Atuamos onde a política pública ainda não chegou plenamente – e ali, ajudamos a criar o solo fértil onde a cidadania possa florescer. Nossas soluções contribuem para que as políticas públicas se consolidem e ao mesmo tempo cheguem a quem mais precisa a partir de diálogos e da construção de caminhos que incluam os saberes do território.
Essa visão dialoga diretamente com os quatro pilares do modelo SSLC: abraçar objetivos locais, descentralizar o controle, captar saberes do território e assumir compromissos de longo prazo. Trata-se, em todos os casos, de equilibrar o tecnicismo das metas com o trabalho árduo e afetivo de escuta, presença e construção.
Nos territórios, aprendemos que a confiança vale tanto quanto o recurso financeiro e que o tempo da comunidade não é o mesmo da lógica empresarial. Que a governança compartilhada, embora mais lenta e onerosa (no sentido do esforço necessário), produz pertencimento. E que não há impacto possível sem a legitimação e a incorporação dos saberes locais. Garantir que as ações sejam feitas com e não para as comunidades é imperioso, e um de nossos pressupostos de atuação.
Como exemplos, temos centenas de boas experiências. Em 2020, diante das urgências trazidas pela pandemia de covid-19 e da volta da fome no Brasil, o CIEDS mobilizou parceiros e criou o projeto Pessoas e Negócios Saudáveis. Baseado no tripé segurança alimentar, fortalecimento de organizações de base comunitária e impulsionamento do empreendedorismo local, o programa chegou a seis estados do Brasil, incluindo 21 comunidades quilombolas e 13 comunidades pesqueiras de Rio de Janeiro e Espírito Santo. A experiência nesses territórios escancarou a lacuna entre o enorme potencial das comunidades e a ausência de direitos básicos. Ricos em saberes, memórias, tradições e espaços de resistência, as organizações e coletivos que lideram as comunidades quilombolas ainda carecem de fortalecimento de suas estratégias de sustentabilidade, articulação em redes e advocacy para políticas públicas. Por isso, reunimos empresas de diferentes segmentos em um objetivo comum, mostrando que o impacto precisa ser coletivo. Além desse, os projetos Baião Social, Rede de Territórios pela Infância, Rede de Prosperidade Familiar e tantos outros mostraram que, quando há compromisso verdadeiro com o território, os resultados aparecem. Não são só indicadores – são histórias de vida.
Não se trata de defender a “parceria” como um fim em si. Trata-se de entender que a pobreza é um fenômeno multidimensional e complexo, logo qualquer resposta precisa ser coletiva. É necessário abrir espaço para múltiplas racionalidades e formas de organizar o viver social.
Outro pressuposto de nossas ações é que projetos que não se relacionam com políticas públicas são menos efetivos. Elas são o caminho para escalar impactos, justamente por seu caráter generalizante e programático.
A ação intersetorial e interinstitucional, quando baseada em complementaridade e não em sobreposição, pode ser uma dessas vias. Mas exige coragem política e sensibilidade humana.
Se queremos um futuro menos desigual, mais democrático e sustentável, não podemos apenas repetir os modelos de sempre. Precisamos reinventar as formas de nos relacionar – entre os setores, as instituições e as pessoas. E talvez o caminho não esteja nas grandes soluções sistêmicas, mas nas alianças complementares, feitas com tempo, confiança e escuta, com reconhecimento da interdependência e foco na convergência.
Leia também: Como recuperar parcerias intersetoriais de baixo desempenho
Como revitalizar parcerias intersetoriais? Organizações brasileiras comentam