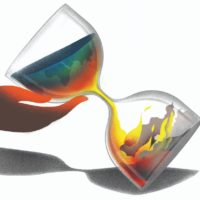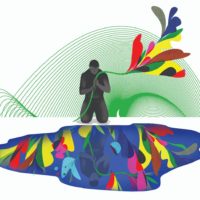O artigo que propõe o modelo SSLC levanta uma provocação sobre a sustentabilidade e a escalabilidade de inovações sociais no Brasil: como transformar soluções locais, ancoradas no capital social e no conhecimento contextual, em políticas públicas de caráter estruturante, capazes de alcançar escala nacional e impacto sistêmico? Mais do que replicar “ilhas de excelência”, é preciso articular redes multinível que combinem a potência do trabalho local com mecanismos de governança capazes de garantir expansão, financiamento e institucionalidade. Sem isso, o SSLC corre o risco de reforçar uma cultura de projetos-piloto bem-intencionados que não se tornam política pública.
O Pacto Contra a Fome (PCF), que atua desde 2023 como uma coalizão suprapartidária e multissetorial, incorporou a cooperação intersetorial não só como método, mas como valor orientador de sua prática. No Ceará, onde trabalha há dois anos no desenvolvimento de um modelo nacional de referência para o combate à fome, a aplicação de estratégias similares às propostas pelos autores do artigo revelou caminhos concretos para enfrentar desafios complexos e persistentes relacionados às parcerias intersetoriais. Com 31,5% da população vivendo em insegurança alimentar, o Ceará é um território crítico para testar a capacidade do SSLC de gerar resultados relevantes como estratégia sistêmica de combate à fome.
Desde os primeiros passos, atributos do modelo proposto estavam presentes. Após um mapeamento do ecossistema local, iniciamos a escuta ativa de 36 organizações e um processo de cocriação multissetorial, culminando em um workshop com 44 atores-chave. Esse movimento, que contou com dedicação para construir uma relação de confiança e capturar as capacidades latentes dos parceiros, nos permitiu compreender as lacunas institucionais e iluminar oportunidades de articulação e sinergia.
Como resposta aos desafios diagnosticados, foi instituído um Fórum Multissetorial de Implementação, composto por representantes de diversos setores, garantindo continuidade e legitimidade e criando um espaço de governança participativa. Como desdobramento prático, foi elaborada uma estratégia inicial com um portfólio de projetos oportunísticos, com foco em conectar e fortalecer iniciativas locais no ciclo 2024-2025.
O uso de aspectos do modelo SSLC revelou-se eficaz para enfrentar desafios no território. A convergência intersetorial possibilitou a ativação de um ecossistema colaborativo envolvendo governo estadual, academia, sociedade civil, setor privado e mídia. Essa convergência ajudou a superar a fragmentação e consolidou uma base de cooperação contínua.
Como desdobramento da estratégia de ativação de capacidades latentes no Ceará, o Projeto Ceasas evidenciou a necessidade de uso de metodologias orientadas por evidências para acelerar mudanças sistêmicas na segurança alimentar. A iniciativa concentra-se na modernização e fortalecimento dos bancos de alimentos instalados nas Centrais de Abastecimento (Ceasas), com foco na redução das perdas e desperdícios de alimentos e na ampliação da redistribuição para populações em situação de vulnerabilidade.
Se de início a ênfase relacional foi importante para criar conexão e escuta entre os atores envolvidos localmente no projeto, sua estruturação enquanto política pública foi pautada sobre uma lógica instrumental e técnica, destinada a qualificar fluxos, processos e estruturas já existentes. Sua proposta metodológica combinou duas frentes: a realização de diagnósticos técnicos aprofundados e a construção de uma agenda de articulação com atores estratégicos nos diversos níveis de governança.
Essa experiência reafirma que a construção de confiança institucional e a consolidação de políticas públicas passam pela articulação entre conhecimentos técnicos e empíricos. A abordagem do Projeto Ceasas complementa o modelo SSLC ao oferecer uma camada instrumental e técnica que robustece as ações locais. Enquanto o SSLC propõe a mobilização de redes e saberes para gerar soluções enraizadas, o Ceasas organiza essas práticas em modelos replicáveis, conferindo-lhes densidade institucional e potencial de escala.
Essa complementaridade evidencia um ponto central: a transformação de sistemas complexos requer a integração entre metodologias orientadas por relações e evidências, escuta e técnica, processos emergentes e estruturas formais. Juntas, essas abordagens viabilizam a conversão de boas práticas locais em políticas públicas robustas, replicáveis e sustentáveis.
No entanto, a resolução de problemas complexos que envolvem interesses múltiplos adicionam uma camada extra de dificuldade que o modelo SSLC não é capaz de superar sozinho. Nesses casos, é preciso uma abordagem ainda mais customizada, envolvendo métodos distintos. A experiência do PCF na discussão sobre a revisão da Cesta Básica Nacional de Alimentos é exemplo disso.
A revisão da Cesta Básica extrapolava uma simples atualização normativa, incluindo um debate acerca da isenção de tributos em nível nacional. Tratava-se de uma decisão com alto impacto sobre a segurança alimentar e nutricional, capaz de reconfigurar padrões de consumo e dinâmicas de mercado, afetando o direito à alimentação adequada. Nesse cenário, o PCF assumiu um papel propositivo e construtivo, ancorado em evidências e orientado por uma estratégia clara de advocacy.
Além da sistematização do conhecimento existente – científico, técnico e dos territórios – para compreender consensos, dissensos e lacunas, a construção da estratégia de incidência envolveu o mapeamento e a articulação com diferentes atores e setores. O desafio foi encontrar caminhos de convergência em um ambiente caracterizado por interesses divergentes, especialmente em sistemas alimentares, em que organizações da sociedade civil, varejistas, indústria e governo disputam agendas e narrativas. Priorizamos construir alianças específicas, estabelecer consensos parciais e criar espaços de influência estratégica.
Entendendo a complexidade dessa atuação, foram articuladas abordagens complementares às táticas do modelo SSLC:
• parceria intersetorial (XSP, na sigla em inglês): como problemas complexos não se resolvem de forma isolada, foi necessário articular forças entre setores diversos para ampliar a legitimidade e a força da proposta;
• iniciativa multistakeholders (MSI, na sigla em inglês): em contextos altamente politizados, o trabalho de aliança multisetorial baseada em confiança e objetivos comuns permitiu coordenar interesses e potencializar impactos.
Essa combinação de abordagens revelou-se particularmente eficaz diante das limitações dos modelos XSP e MSI, com frequência desafiados por assimetrias de poder, dificuldades de comunicação e falta de alinhamento de interesses. O uso de táticas associadas ao SSLC operou como força moderadora, conectando as decisões políticas aos territórios e aos impactos concretos para as populações mais vulneráveis.
Dois aprendizados sobressaem dessa experiência: a construção de confiança e o compromisso de longo prazo foram forças determinantes, enquanto a valorização dos saberes locais e das experiências territoriais fortaleceu a legitimidade da proposta.
Em problemas públicos de alta complexidade e com múltiplos stakeholders, não há solução única ou método isolado capaz de garantir resultados duradouros. A combinação de abordagens técnicas e relacionais é fundamental para construir legitimidade, alinhar interesses divergentes e fortalecer o impacto das políticas públicas.
A experiência do PCF com atributos do modelo SSLC demonstra que, embora essa abordagem viabilize a ativação de capacidades locais e a construção de soluções enraizadas nos saberes comunitários, sua sustentabilidade e escalabilidade exigem uma combinação intencional com outras estratégias de governança e articulação intersetorial.
As sugestões do modelo SSLC abriram caminhos em territórios fragmentados, fortaleceram ecossistemas locais e deram visibilidade a capacidades e soluções muitas vezes subutilizadas. No entanto, à medida que os desafios se deslocam do nível local para agendas mais amplas e nacionais, fica evidente que nenhuma metodologia isolada é suficiente para transformar inovações em políticas públicas estruturantes.
A principal lição, portanto, é que a escalabilidade das inovações sociais não deve buscar a replicação mecânica de soluções locais, mas sim a institucionalização das condições que permitam sua emergência, fortalecimento e adaptação contínua a diferentes contextos. Nesse sentido, o modelo SSLC revela seu valor não como uma metodologia de transição, mas como fundamento estratégico de um ecossistema mais amplo de políticas públicas que reconhece a pluralidade dos saberes, necessidades e capacidades dos territórios.
Por fim, a experiência do PCF sugere que a resposta à provocação inicial – como transformar soluções locais em políticas públicas escaláveis e estruturantes – não reside em modelos únicos, mas na integração deliberada de estratégias complementares. A combinação entre evidências técnicas, articulação política, valorização da inteligência territorial e fortalecimento da confiança social é o que torna possível construir soluções sistêmicas e sustentáveis para problemas sociais complexos.
Leia também: Como recuperar parcerias intersetoriais de baixo desempenho
Como revitalizar parcerias intersetoriais? Organizações brasileiras comentam