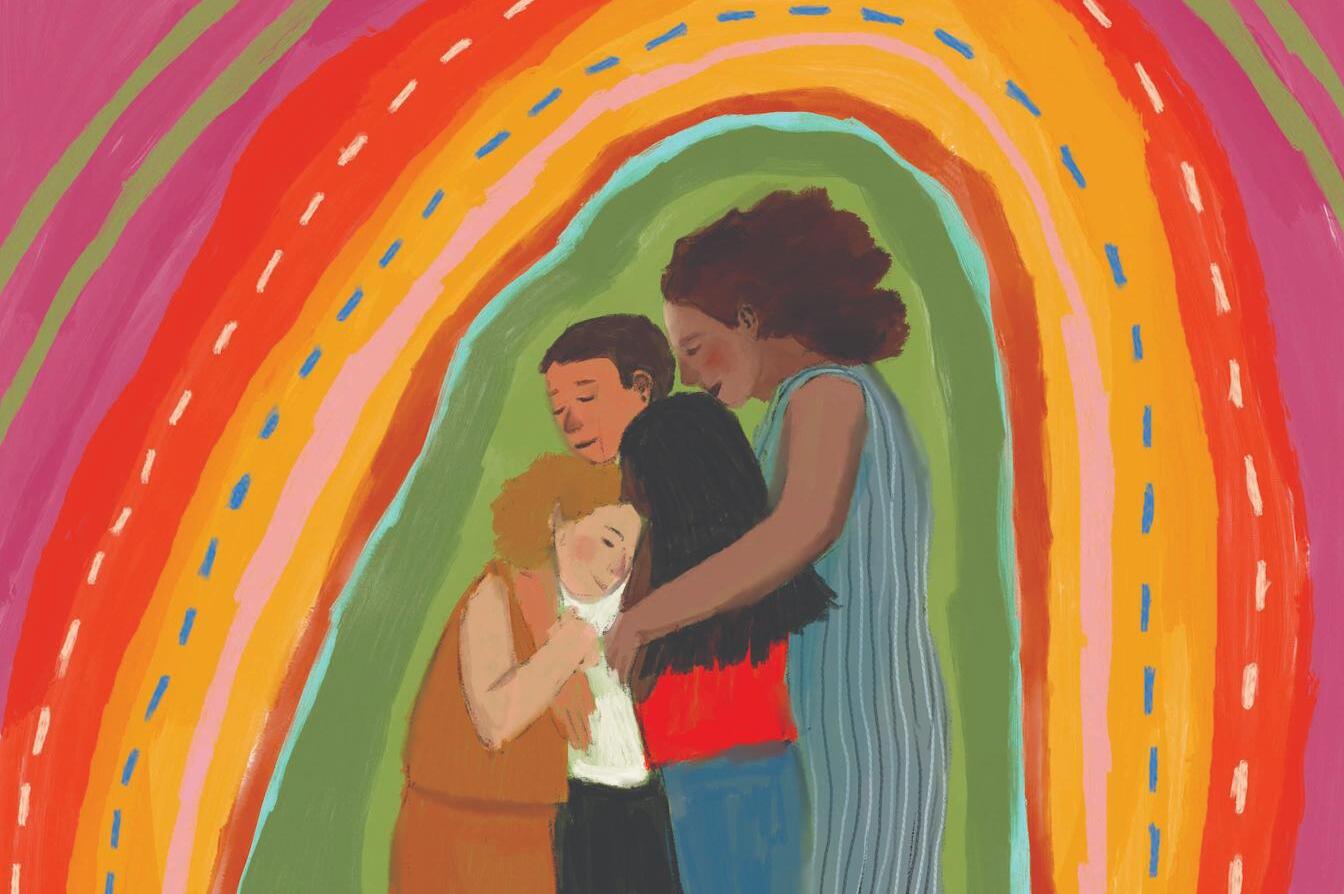Em foco
- O Brasil ficou quase uma década sem dados oficiais sobre saúde mental juvenil
- Mais de 5.500 municípios aderiram ao PSE, mas a cobertura ainda é baixa
- A escola é muitas vezes o único contato de crianças com políticas públicas
- O aumento da violência escolar acelerou a aprovação da nova lei
- O retorno financeiro de ações preventivas pode chegar a 88 vezes o investimento
A saúde mental de crianças e adolescentes tem se consolidado como uma das agendas mais urgentes no campo das políticas públicas no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, problemas estruturais conhecidos há muito tempo e historicamente negligenciados pelo Estado vieram à tona devido aos impactos causados pela pandemia da covid-19, aprofundando questões sensíveis à saúde mental.
Um avanço legislativo importante, e ao mesmo tempo um ponto de inflexão, ocorreu com a Lei 14.819/2024, que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Ao fortalecer o Programa Saúde na Escola (PSE) – política intersetorial já consolidada entre os ministérios da Saúde e da Educação –, a nova legislação amplia o escopo da atenção psicossocial no ambiente escolar e busca posicionar a escola como espaço legítimo de cuidado, escuta e promoção da vida.
A promulgação da lei é um marco na complexa trajetória brasileira no campo da saúde mental, marcada por práticas de segregação e institucionalização que atingiram especialmente os atores sociais em maior vulnerabilidade. Crianças e adolescentes, em particular, foram invisibilizados, patologizados ou submetidos a abordagens punitivas que desconsideravam sua subjetividade. Ficaram às margens da legislação e foram privados de direitos sociais e humanos básicos.
Com o início da Reforma Psiquiátrica, nas décadas de 1980 e 1990, e sua forte inspiração antimanicomial, uma nova perspectiva se impôs, baseada na territorialização do cuidado e na própria construção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Mesmo assim, os avanços nesse período ainda não se materializaram plenamente em políticas específicas, efetivas e universais para crianças e adolescentes.
A presença constante da escola na vida cotidiana, aliada à sua ampla inserção territorial, confere um papel estratégico às comunidades escolares na promoção da saúde mental infantojuvenil. É nesse contexto que a Lei nº 14.819/2024 – conhecida como Lei do PSE – propõe a construção de um Sistema Nacional de Saúde Mental nas Escolas (SISME), articulando legislações já em vigor, como a Lei da Reforma Psiquiátrica, a lei que prevê a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas –, e o próprio PSE. Trata-se de uma proposta que busca fortalecer o cuidado em rede por meio de uma estrutura normativa integrada e intersetorial.
A sanção da lei, entretanto, não garante, por si só, sua efetivação. A ausência de implementação concreta, mais de um ano após sua promulgação, em janeiro de 2024, revela não apenas a fragilidade institucional das políticas de saúde mental, mas também os desafios de consolidá-las como políticas de Estado. Reconhecendo essa conjuntura, apresentamos uma análise crítica e propositiva sobre o futuro da saúde mental nas escolas brasileiras, assim como caminhos para a implementação efetiva da nova lei.
Ao contextualizar os principais marcos da política de saúde mental no país, identificar suas lacunas e destacar os desafios intersetoriais, defendemos que somente com protagonismo juvenil, monitoramento contínuo, qualificação das equipes do PSE e compromisso federativo será possível romper com o ciclo de negligência e inaugurar, de fato, uma cultura do acolhimento nas escolas.
O retrato do horror
Um dos casos mais emblemáticos das instituições para “tratamento” psiquiátrico foi o que ficou conhecido como “Holocausto Brasileiro”. A expressão descreve as atrocidades cometidas no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, inaugurado em 1903. Ali, cerca de 60 mil pessoas morreram devido a maus-tratos, desnutrição, torturas e outras condições desumanas até o início de sua desativação, em 1980.
As crianças e órfãos internados enfrentavam cotidianos extremamente degradantes. Muitos deles não apresentavam nenhum transtorno mental.
Segundo Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro – genocídio: 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, “a estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental. Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava seus abusos. Livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela, de preferência em local que a vista não pudesse alcançar”.
O psiquiatra italiano Franco Basaglia veio para o Brasil em 1979 e visitou hospitais psiquiátricos em Minas Gerais. A partir das inúmeras violações vistas em Barbacena – que ficou conhecida como “cidade dos loucos” –, ele denunciou a situação à imprensa brasileira, comparando os hospitais aos campos de concentração
Negligência histórica nas políticas públicas
A história da saúde mental no Brasil começou no período colonial, mas foi só a partir do século 19 que ganhou contornos institucionais. No Brasil Colônia, pessoas consideradas “anormais”,1 que não necessariamente tinham transtornos mentais, eram isoladas da sociedade ou tratadas de maneira precária, muitas vezes em asilos ou conventos.
O modelo assistencial brasileiro se baseou no isolamento de pacientes em hospitais psiquiátricos, muitos deles pessoas em situação de rua, mães solteiras, militantes ou crianças órfãs. Em 1841, seguindo o modelo manicomial europeu, foi fundado o Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil.
Ao longo do século 20, aumentou o número de hospícios, instituições que promoviam longas internações, eletrochoques, contenção química e física (ver quadro O retrato do horror).
As primeiras críticas mais organizadas ao modelo manicomial surgiram na década de 1970. Elas tinham como inspiração a experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica radical ao manicômio, a partir da reforma implementada por Franco Basaglia.
O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) reuniu profissionais da saúde que denunciaram o modelo manicomial brasileiro, revelando as condições desumanas em que viviam as pessoas internadas. O fortalecimento da mobilização culminou em uma mudança de paradigma, cujo resultado foi o movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira a partir da década de 1980, inserida contextualmente na criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
A proposta da Lei da Reforma Psiquiátrica levou mais de uma década para ser aprovada. Esse longo tempo de convencimento demonstra os desafios em mudar a “visão de mundo”2 de uma sociedade cuja história é baseada na escravidão e que marginaliza grupos sociais e institucionaliza práticas de segregação – uma visão de mundo que ainda está em disputa.
A Reforma Psiquiátrica deu espaço ao surgimento dos primeiros serviços que viriam a substituir os manicômios, como os Serviços Residenciais Terapêuticos e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre eles aqueles destinados especificamente para crianças e adolescentes (CAPSi).
A intersetorialidade, essa prática da saúde mental ampliada e também determinada socialmente, precisa de um sistema político maduro porque demanda tempo e segurança para acontecer de forma sustentável
De acordo com o Ministério da Saúde, os CAPS são lugares que oferecem serviços de saúde abertos para a comunidade. Uma equipe diversificada, composta por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, enfermeiros, entre outros, trabalha em conjunto para atender às necessidades de saúde mental das pessoas, incluindo aquelas que enfrentam desafios relacionados às necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Esses serviços estão disponíveis na região e são especialmente focados em ajudar em situações difíceis ou no processo de reabilitação psicossocial. Os CAPS integram a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
Os CAPSi, especificamente, atendem crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. São indicados para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70 mil habitantes. Atualmente, os modelos assistencial e asilar têm coexistido nas ações do governo federal. A permanência desses dois modelos, opostos entre si, caracteriza a dinâmica do contexto em que as políticas de saúde mental estão inseridas (ver quadro a seguir).
As contradições entre os modelos de atenção à saúde mental
Uma pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS)3 demonstrou que a substituição do modelo manicomial pelo assistencial tem sido bem-sucedida, mas indica também um alerta sobre a permanência e começo da ampliação dos leitos psiquiátricos privados, que aumentou 18,7% no período de 2013 a 2023 (passando de 10,0 mil leitos para 12,5 mil, em números absolutos, tanto público quanto privado).
Essa permanência dos leitos privados pode corresponder ao aumento de demanda revelado pelo mesmo estudo: dobrou o número de atendimentos de casos de transtornos mentais na rede pública de saúde. Isso pode estar relacionado a uma série de fatores, entre os quais a possível continuidade do paradigma manicomial, ou seja, do recurso à internação psiquiátrica como prioridade em relação a outros tipos de tratamento.
Quando olhamos para a implementação dos centros destinados especificamente às crianças e adolescentes (CAPSi), nota-se um crescimento mais acelerado em comparação com o total de CAPS. Segundo o Saúde Mental em Dados de 2025, do Ministério da Saúde, o aumento no número de CAPSi de 2013 a 2024 foi de 80,75%, enquanto o total geral de CAPS no mesmo período subiu 46,41%. É importante considerar que esse crescimento ocorre sobre uma base inicial muito pequena. Apesar do percentual elevado, o número absoluto de unidades ainda é insuficiente para atender à demanda de crianças e adolescentes que necessitam de cuidados em saúde mental. A falta de leitos para essa população acaba gerando uma demanda para os serviços de adultos. E alguns lugares internam crianças em alas de adultos – o que é ilegal e, comprovadamente, causa risco importante para as crianças.
A distribuição dos CAPSi no país é desigual, considerando o tamanho populacional dos estados e municípios. Na distribuição por unidade federativa, Tocantins, Alagoas e Rio Grande do Norte apresentam os maiores índices proporcionais. Goiás, Rondônia e São Paulo estão abaixo da média nacional em termos proporcionais, apesar de São Paulo ter o maior número absoluto de CAPSi.
No mesmo relatório do Ministério da Saúde, não foi registrado nenhum CAPSi relacionado ao Incentivo Financeiro para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), ainda que esteja previsto em portaria federal.4 A desigualdade de distribuição de CAPSi no território brasileiro, somada à falta de ações destinadas à crianças e adolescentes indígenas e à possível permanência e início de aumento de leitos psiquiátricos privados sem absorção, no SUS, apontam para o risco de continuidade da negligência com a saúde mental de crianças e adolescentes. Esse descaso se reflete na forma em que a política de saúde mental no Brasil está organizada.
Política de Estado ou políticas de governo?
Atualmente, o que seria a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil é principalmente um conjunto de normas secundárias – as chamadas normas infralegais –, decretos e portarias, que se relacionam direta ou indiretamente com a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001). Isso porque, historicamente, as políticas de saúde, de maneira geral, são regulamentadas pelo Poder Executivo Federal. No caso da saúde mental, isso se comprova nas normas infralegais que começaram a organizar, em 2011, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).5
Quando uma política é composta por poucas leis e muitas normas infralegais, como na saúde mental, ela pode ser caracterizada como política de governo, pois são pouco sustentáveis e estão suscetíveis às mudanças eleitorais e, em consequência, da gestão.
Esse formato coloca em risco a efetividade e continuidade de políticas públicas, como ocorreu com o monitoramento e avaliação das ações de saúde mental entre 2016 e 2025, período que pode ser chamado de “década do apagão de dados da saúde mental”.6 Foram quase dez anos sem que o Ministério da Saúde publicasse o Saúde Mental em Dados – principal relatório oficial e descritivo dos serviços da RAPS. Outro exemplo foi o “revogaço”7 do ex-presidente Jair Bolsonaro que ameaçou, com apenas a assinatura de uma portaria, desativar outras 99.
Tal fragilidade impacta o que já é um desafio nas políticas de saúde mental: a intersetorialidade. Uma política de Estado favorece a possibilidade de construção de uma prática intersetorial porque é forte e sobrevive às intempéries das mudanças de governos.
A intersetorialidade, essa prática da saúde mental ampliada e também determinada socialmente, precisa de um sistema político maduro porque demanda tempo e segurança para acontecer de forma sustentável. Permanência, vínculo e pertencimento são tão fundamentais no acolhimento da pessoa em sofrimento, e/ou com transtorno mental, quanto no funcionamento de políticas públicas que pretendem ser políticas de Estado. Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola (PSE) apresenta-se atualmente como a principal estratégia intersetorial entre esses dois campos no cuidado de crianças e adolescentes.
O futuro da saúde mental está na escola
A escola desempenha um papel protagonista essencial nas políticas direcionadas para crianças e adolescentes. Essa instituição central da constituição social abriga os estudantes durante seus anos de amadurecimento e, no Brasil, é onde a maioria da população infantojuvenil passa a maior parte do seu tempo.8 Em inúmeros casos, a escola é o primeiro ou maior contato que um indivíduo terá com o Estado ao longo da vida.
Conforme descreve o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),9 a saúde mental de crianças e adolescentes está relacionada a uma transição saudável para a idade adulta, com implicações no bem-estar geral, crescimento e desenvolvimento, autoestima, resultados positivos na educação, coesão social e resiliência diante de futuras mudanças na saúde e na vida. Como 50% de possíveis transtornos de saúde mental se iniciam até os 14 anos de idade e 75% até os 24 anos, a infância e a adolescência são momentos estratégicos para prevenir doenças e promover a saúde mental.
Os benefícios das ações em prol da saúde mental nessa fase também são orçamentários. Ainda de acordo com o UNICEF,10 intervenções para prevenção da ansiedade, depressão e suicídio nas escolas geram um retorno de US$ 21,5 a cada dólar investido, ao longo de 80 anos. Em países de baixa e média renda, esse valor chega a US$ 88,7 em 80 anos – o que representa uma janela de oportunidade de ações para garantia de uma população adulta mais saudável e que também contribui para o desenvolvimento socioeconômico.
Além disso, a evasão escolar de estudantes com problemas de saúde mental varia de 43% a 86%, e estudantes com depressão têm duas vezes mais chance de deixar a escola do que aqueles sem depressão.11
As escolas podem ser adoecedoras. Modelos tradicionais e rígidos muitas vezes desconsideram a singularidade dos estudantes, tornando o ambiente escolar um espaço de controle e sofrimento psíquico
Assim como os hospitais psiquiátricos, sabemos que as escolas também podem ser adoecedoras. Modelos de educação tradicionais, rígidos e voltados para a padronização dos comportamentos e saberes muitas vezes desconsideram a singularidade dos estudantes, tornando o ambiente escolar um espaço de controle e sofrimento psíquico.
Escolas são instituições que exercem controle e vigilância para garantia da normalidade, como nos mostrou Michel Foucault, mas se abordamos o contexto de acordo com o método de Paulo Freire,12 a escola pode ser um espaço transformador, pois é centrado na perspectiva e vivência da realidade do estudante, valorizando o processo de ensino-aprendizagem como ferramenta de mudança social. Como uma política de Estado, a perspectiva freireana cria o terreno propício para a prática interdisciplinar. Criado em 2007 e regulamentado em 2017, o PSE dialoga com essa abordagem por partir do território, com equipes formadas por profissionais da Atenção Primária e Estratégia Saúde da Família.
O argumento da violência
Ainda que sustentado por Portarias, o PSE é a iniciativa que atravessa as mudanças políticas, faz a conexão entre Saúde e Educação e pode promover saúde mental na comunidade escolar. Dos 5.570 municípios brasileiros, 5.506 aderiram ao PSE no biênio 2023/2024, alcançando 102.199 escolas e 24,9 milhões de estudantes beneficiados13 – um recorde histórico. Foi nesse mesmo período que o PSE incorporou ações de saúde mental entre suas prioridades14 e que a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, a Lei nº 14.819/2024, foi sancionada. Mas foi antes, em 2021, que seu projeto de lei (PL) foi protocolado.
A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) deram entrada da mesma proposta na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em uma estratégia de tramitação bicameral para ampliação das chances de aprovação. Com isso foi possível observar a distribuição em comissões que cada casa legislativa faria, o que permitiu priorizar a opção que apresentasse caminho mais viável – nesse caso, no Senado. Lá, sua aprovação aconteceu em um ano, seguindo para a Câmara, onde levaria dois anos até a sanção presidencial – um tempo consideravelmente curto se comparado à tramitação de outros projetos de lei. Provavelmente seu andamento teria sido mais lento se um fato social não fosse tornado um problema público: a publicização de episódios de violências no contexto de volta ao regime de ensino presencial nas escolas.
A principal motivação para a proposição, que teve o apoio técnico do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) desde sua minuta, foram as consequências da pandemia de covid-19. Alunos, pais e profissionais da educação ainda sofrem os impactos da crise, como dificuldades de aprendizagem, fragilidade de vínculos afetivos, sofrimento, evasão e abandono escolar. Mas foi a violência o principal argumento que mobilizou os deputados a ponto de o PL tramitar em regime de urgência.15 Uma semana antes, a professora Elisabeth Tenreiro, da Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, foi esfaqueada por um aluno e morreu.16 Outras três pessoas ficaram feridas no ataque. Esse foi o caso de maior repercussão, mas outros episódios pelo país também foram divulgados.17 Se historicamente as escolas têm produzido violência, seja na teoria foucaultiana ou nos noticiários brasileiros, aqui a violência foi utilizada como argumento para promoção da saúde, correspondendo a um determinante social de saúde.
Assim, o PL também se tornou uma prioridade para a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, então presidida pela deputada Tabata Amaral. Foram realizadas reuniões com as equipes técnicas dos ministérios da Educação e da Saúde, com o intuito de alinhar os objetivos em torno do tema e garantir um texto de lei possível e necessário. Isso garantiu que as pastas emitissem um parecer favorável, que é considerado nas casas legislativas durante as votações.
O argumento da prevenção da violência nas escolas, somado às estratégias de articulação pelo Poder Legislativo com o Poder Executivo, levou à aprovação do PL em dezembro de 2023, sendo sancionado pelo presidente Lula em janeiro de 2024.
A articulação pela saúde mental nas escolas
Também chamada de “Lei do PSE”, a Lei nº 14.819/2024 busca fortalecer o programa já existente, podendo dar a ele a institucionalidade de política de Estado. Isso passa pelo fomento de seus Grupos Intersetoriais nos Estados (GTI-E) e nos Municípios (GTI-M), que têm a responsabilidade de criar planos de trabalho em saúde mental para serem aplicados nas escolas e informar, anualmente, quais ações foram desempenhadas. Essa articulação permite o monitoramento e avaliação contínuos da política com a capilaridade territorial necessária para associar não somente saúde e educação, mas também assistência social – através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS, por exemplo).
Sistema Nacional de Saúde Mental nas Escolas – SISME
Quando uma lei é aprovada, ela passa a se relacionar com várias outras já existentes, criando uma rede de normativas que são influenciadas umas pelas outras. Nesse sentido, apresentamos o Sistema Nacional de Saúde Mental nas Escolas (SISME) (figura abaixo). Por se tratar de uma política nacional, a Lei do PSE se relaciona com uma série de outras normas legais (na cor azul) e infralegais (amarelas), incluindo a Lei dos Psicólogos e Assistentes Sociais nas Escolas (2019) e a recém-promulgada Lei da Proibição dos Celulares nas Escolas (2025).
De todas as leis que compõem o SISME, apenas a Lei da Reforma Psiquiátrica foi implementada, ainda que parcialmente. Os CAPSi, por exemplo, não foram implementados em sua completude porque ainda estão focados em casos mais graves – contrariando o que está proposto normativamente, ou seja, que o acolhimento deve ser universal.18
A efetivação da Lei dos Psicólogos e Assistentes Sociais nas Escolas está mais avançada do que a Lei do PSE, ainda que esteja subordinada à mesma. O Ministério da Educação criou um grupo de trabalho e realizou alguns estudos para se aproximar do processo. Um dos principais desafios é a contratação dos profissionais e o atendimento às demandas das categorias, que por vezes divergem internamente – como é o caso de parte dos psicólogos reivindicarem seu enquadramento nas escolas como psicólogos escolares, e outra parte compreender que se trata de um trabalho clínico.
Leva tempo para a cultura do acolhimento se instalar na sociedade. Compreender que as escolas podem ser lugar de promoção de saúde mental em vez de espaço de controle e disciplina faz parte dessa mudança
Embora a Lei do PSE não tenha sido ainda implementada nacionalmente, o Distrito Federal e alguns estados já iniciaram ações de saúde mental nas escolas – por exemplo, Amapá, Pernambuco e Alagoas.19 Além disso, correspondendo à relação entre saúde mental e violência, a lei também resultou na promulgação de um decreto presidencial que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas (SNAVE).20 De acordo com o texto, a prestação de apoio psicossocial que está prevista nesse sistema deverá ser realizada nos termos da Lei do PSE.
Enquanto isso, a expectativa de efetivação da Lei da Proibição dos Celulares nas Escolas foi rapidamente frustrada. Promulgada em janeiro de 2025 e com previsão de ser colocada em prática já na volta às aulas, a iniciativa do governo federal se reduziu, pelo menos até dois meses depois de sua sanção, à publicação Crianças, adolescentes e telas: guia sobre usos de dispositivos digitais.21 Contudo, não foi preciso que uma implementação nacional ocorresse para que diversas escolas adotassem rapidamente a medida – confirmando seu poder disciplinar e/ou correspondendo ao amplo apoio da comunidade escolar.
A hora da mudança
Leva tempo para a Cultura do Acolhimento se instalar em uma sociedade. Compreender que as escolas podem ser lugar de promoção de saúde mental em vez de espaço de controle e disciplina faz parte de uma mudança radical na visão de mundo – a mesma mudança envolvida no almejado fim do paradigma manicomial. Nas políticas de saúde mental de crianças e adolescentes isso significa, sobretudo, incluí-los como sujeitos psíquicos e políticos, garantindo o protagonismo juvenil no tratamento de saúde e nas políticas públicas.
Políticas que não envolvem seu público-alvo em algum momento de seu ciclo tendem a falhar. Esse risco é ainda maior se considerado o desafio da interdisciplinaridade. O SISME requer, obrigatoriamente, uma boa articulação entre os ministérios da Saúde e da Educação. O potencial de ações aqui existente é enorme e crucial. Contudo, a capacidade para que isso ocorra ainda está aquém do necessário. O PSE deve qualificar suas equipes para realizar ações de saúde mental nas escolas baseadas em evidências e com o devido registro para monitoramento e avaliação. Apesar de ter representado um avanço e uma boa adesão dos municípios, o Programa Saúde na Escola alcançava somente 52% do total de alunos que estavam matriculados regularmente na educação básica em 2023. Isso significa que o PSE precisa ser fortalecido para alcançar mais escolas, principalmente as estaduais.
Diante dos desafios, pilotos de intervenção em saúde mental nas escolas são um caminho para a produção e atualização de evidências22 que podem sustentar boas práticas em políticas públicas que se tornem políticas sustentáveis. Ou seja, políticas de Estado. Se não há implementação das leis que compõem o SISME, e a interdisciplinaridade, o monitoramento, a avaliação e o protagonismo juvenil nas políticas públicas são figurativos e a negligência histórica de crianças e adolescentes continua.
*Este trabalho é desenvolvido em parceria com o Centro Global da Stavros Niarchos Foundation (SNF), no Child Mind Institute, com apoio financeiro inicial da SNF, no âmbito de sua Iniciativa Global de Saúde (GHI).
NOTAS
1 Em referência à obra Os anormais (1975), de Michel Foucault. Trata-se de indivíduos que foram caracterizados como perigosos para o corpo social, sendo constantemente punidos, corrigidos e violados.
2 Geertz, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1978.
3 Instituto de Estudos para Políticas de Saúde – IEPS. Boletim Radar+SUS, n. 2, fev. 2025. Disponível em https://ieps.org.br/boletim-radar-mais-sus-02-2025/. Acesso em: 30 mar. 2025.
4 Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.663, de 11 de outubro de 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2663_16_10_2017.html. Acesso em: 30 mar. 2025.
5 A RAPS é um conjunto integrado e articulado de diferentes serviços, de diferentes níveis, para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado. Compõem a RAPS: a Atenção Primária à Saúde, os Hospitais Gerais, o SAMU, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os Consultórios na Rua, os CAPS, as Unidades de Acolhimento, os SRT e o Programa de Volta para Casa.
6 Folha de S.Paulo. A saúde mental do país às escuras. Blog Saúde em Público. 22 abr. 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/blogs/saude-em-publico/2022/04/a-saude-mental-do-pais-as-escuras.shtml. Acesso em: 30 mar. 2025.
7 Nexo Jornal. O que propõe o “revogaço” do governo na saúde mental. 10 dez. 2020. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/12/10/O-que-prop%C3%B5e-o-%E2%80%98revoga%C3%A7o%E2%80%99-do-governo-na-sa%C3%BAde-mental. Acesso em: 30 mar. 2025.
8 De acordo com o Censo de 2023, 47,3 milhões de estudantes estavam matriculados na educação básica do Brasil, em 178,5 mil escolas. Em 2023, 75% dos jovens de 15 a 17 anos estavam na escola – faixa etária em que é maior o abandono e a evasão. Dados do relatório “Uma análise das condições de vida da população brasileira”.
9 UNICEF. Monitoring the situation of children and women’s health. UNICEF Data, 2019. Disponível em: https://data.unicef.org/topic/child-health/mental-health/. Acesso em: 30 mar. 2025.
10 UNICEF. The State of the World’s Children 2021: On My Mind – promoting, protecting and caring for children’s mental health. 2021. Disponível em: https://www.unicef.org/media/114636/file/SOWC-2021-full-report-English.pdf. Acesso em: 30 mar. 2025.
11 Dupéré, Véronique et al. Revisiting the link between depression symptoms and high school dropout: timing of exposure matters. Journal of Adolescent Health, volume 62, issue 2, p. 205-211, February 2018. Disponível em: https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30491-3/fulltext. Acesso em: 30 mar. 2025.
12 Freire, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
13 Brasil. Secretaria de Comunicação. Saúde na escola beneficia quase 25 milhões de estudantes no biênio 2023-2024. Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2024/10/saude-na-escola-beneficia-quase-25-milhoes-de-estudantes-no-bienio-2023-2024. Acesso em: 30 mar. 2025.
14 Brasil. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 30/2024/CGEDESS/DEPPROS/SAPS/MS. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-30-2024-cgedess-deppros-saps-ms. Acesso em: 30 mar. 2025.
15 O regime de urgência dispensa algumas formalidades regimentais. Para tramitar neste regime, a proposição deve tratar de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais. Fonte: Câmara dos Deputados. Regime de tramitação. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/guia-para-jornalistas/regime-de-tramitacao. Acesso em: 30 mar. 2025.
16 Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Nota de imprensa sobre ataque na Escola Estadual Thomazia Montoro. 2023. Disponível em: https://www.educacao.sp.gov.br/nota-imprensa-sobre-ataque-na-escola-estadual-thomazia-montoro/. Acesso em: 30 mar. 2025.
17 Agência Brasil. Violência nas escolas tem aumento de 50% em 2023. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2023-11/violencia-nas-escolas-tem-aumento-de-50-em-2023. Acesso em: 30 mar. 2025.
18 Ventura, D. S. Avaliação da implantação dos CAPSi no Brasil. Psicologia Clínica, v. 36, n. 1, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pc/a/RSQnbmxPbbjDDcKKTdWSm3s/abstract/?lang=pt. Acesso em: 30 mar. 2025.
19 Governo de Alagoas. Governo lança programa Coração de Estudante. 2024. Disponível em: https://alagoas.al.gov.br/noticia/governo-lanca-programa-coracao-de-estudante-de-atencao-a-saude-mental-de-alunos-da-rede-estadual. Acesso em: 30 mar. 2025.
20 Brasil. Decreto nº 12.006, de 24 de abril de 2024. Cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/Decreto/D12006.htm. Acesso em: 30 mar. 2025.
21 Brasil. Secretaria de Comunicação. Crianças, adolescentes e telas: guia sobre usos de dispositivos digitais. Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/uso-de-telas-por-criancas-e-adolescentes/guia. Acesso em: 30 mar. 2025.22 Marchionatti, Lauro Estivalete et al. The science of child and adolescent mental health in Brazil: a nationwide systematic review and compendium of evidence-based resources. medRxiv, November 13, 2024. Disponível em: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.11.10.24317061v1.full. Acesso em: 30 mar. 2025.